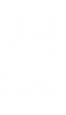Aqui você encontrará todas as Teses e Dissertações dos discentes do PPGF, disponíveis para download!
[] 2025 ---------------------------------------------------------
TITULO: FEMININO, À LUZ DA FILOSOFIA LEVINASIANA E DA PSICANÁLISE, COMO TransBORDAmento EPISTEMOLÓGICO FACE AO PATRIARCALISMO
Autor: Jeane Helfemsteller
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí/Prof. Dr. Érico Andrade
Ano: 2025
RESUMO: Essa pesquisa estuda a inferiorização e desqualificação de capacidades humanas, tais como a sensibilidade e a sensualidade, as quais são endereçadas ao feminino, resultando na histórica violência direcionada às mulheres. A tese demonstra que esse fenômeno persiste devido à manutenção dos valores patriarcalistas transmitidos e assimilados por meio do que nomeamos, aqui, por epistemologia patriarcal, e através da colonialidade epistêmica de gênero. Para isso, analisamos o conceito de feminino à luz da filosofia levinasiana e da Teoria Psicanalítica com base em Freud e Lacan. O objetivo da tese é investigar a operacionalização da epistemologia patriarcal problematizando nela i) a colagem de qualidades humanas às posições subjetivas, feminino/masculino, e destas posições ao gênero/sexo; ii) a hierarquização destas posições e, decorrentemente, de qualidades que não são de gênero/sexo, mas humanas, a fim de perscrutar seus efeitos em termos de alcances filosóficos e paradigmáticos, e suas consequências éticas à luz da filosofia levinasiana. A pesquisa evidencia que i) essa colagem é produto/produtora desta epistemologia que opera hierarquizando estas posições, atribuindo- lhes qualidades com as quais se criaram ideais de feminilidade e de masculinidade; ii) tal operação tem efeitos epistemológicos paradigmáticos, pois a hierarquização de qualidades que não são de gênero/sexo, nem hierárquicas, e sim humanas e indispensáveis, acarretou desenvolvimentos precários em termos cognitivos, e desencadeou um desequilíbrio que resulta em um empobrecimento subjetivo no qual Eros é anestesiado, e em uma insensibilidade do eu a si mesmo e ao Outro. Consequentemente, temos um Zeitgeist belicoso, no qual a violência da aniquilação da alteridade é legitimada e a vida é banalizada. Por fim, apresentamos notícias de uma epistemologia Outra que, tendo o feminino como desconstrução e abertura à alteridade e à criatividade existencial, pode se comprometer com a multiplicidade radical dos seres vivos. A tese se sustenta na ideia de que a superação de mecanismos opressores e excludentes precisam visar o desafio do impossível, inaugurando outras epistemologias de lugares fora do lugar. É movida, enfim, pelo princípio da “Dança”, evocada na reivindicação da feminista anarquista Emma Goldman quando diz “de nada me serve a revolução se eu não puder dançar”.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: MÍSTICA EM AGOSTINHO DE HIPONA: O ITINERÁRIO DO TOTUS HOMO DEIFICATUS
Autor: Messias Nunes Correia
Orientador: Prof. Dr. Nilo César Batista Silva.
Ano: 2025
RESUMO: Este estudo da obra de Agostinho centra-se no itinerário místico da alma para Deus, na perspectiva em que a mística e a abertura ao divino, auxiliado pela graça, é a condição para que o ser humano passe do aversio a conversio e alcance, em sua totalidade, a deificação. A mística em Agostinho é o ingresso no mais íntimo de si, de interioridade e, mais que isso, da contemplação do divino que é superior à alma. Nesse sentido, o movimento de interioridade é, também, de elevação a Deus. Seu pensamento filosófico gravita em torno da experiência de fé e da busca do homem pelo Sumo Bem. Essa busca, porém, não é entendida como invalidação da razão, do esforço do intelecto em elevar-se à verdade, mas como prevalência que direciona a alma a contemplação do Absoluto, uma vez que a alma tende para Deus e encontra Nele sua perfeição. Isso porque a deificação é a mudança radical do ser humano no divino, uma participação, o quanto seja possível à criatura, na vida de Deus. Nessa direção, união e deificação são tratados como consumação que se realiza na totalidade do ser humano, ou seja, corpo e alma. Diante disso, o problema que se impõe e que norteará essa investigação concentra- se nesses dois aspectos, aos quais devem ser tratados inseparavelmente, a mística e a deificação. Nesse sentido, como Agostinho constrói o itinerário místico da alma para Deus e como acontece a deificação do ser humano em sua totalidade? A resposta a essa problemática é necessária à medida que elucida esse aspecto da filosofia de Agostinho, ao tempo que põe em relevo a importância do tema em todo período posterior ao hiponense, uma vez que a mística e a deificação ocuparam partes significativas dos tratados filosóficos e teológicos do Oriente e Ocidente.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: EDUCAÇÃO ESTÉTICA EM JOHN LOCKE: da sensibilidade aos sentidos
Autor: Nilmária Silveira Alves
Orientador: Prof. Dr. Christian Lindberg Lopes do Nascimento
Ano: 2025
RESUMO: A presente pesquisa investiga a possibilidade de uma educação estética no pensamento de John Locke (1632–1704), articulando epistemologia e educação a partir das obras Ensaio sobre o entendimento humano (1689) e Alguns pensamentos sobre a educação (1693). A problemática central consiste em investigar se, e em que medida, a formação dos sentidos, dos sentimentos e a educação das boas maneiras, recomendadas por Locke no processo formativo, podem ser interpretadas como antecipações de uma educação estética, mesmo em uma filosofia majoritariamente orientada pela razão e pela moralidade. Questiona-se, nesse contexto, se é possível falar em uma dimensão estética da educação em John Locke, considerando sua teoria do conhecimento e suas propostas educativas. Parte-se da hipótese de que a teoria lockeana apresenta elementos que associam a educação dos sentidos e a aquisição da civilidade a uma dimensão estética do comportamento, de modo que, ainda sem tematizar diretamente a estética ou uma educação estética, Locke oferece bases conceituais que permitem tal leitura. A pesquisa adota a abordagem hermenêutica, tendo como referência os aportes de Hans-Georg Gadamer, buscando compreender os conceitos de sentido, sentimento, cortesia, civilidade, beleza e boas maneiras à luz das condições socioculturais do século XVII. A dissertação organiza-se em três capítulos: o primeiro delineia o contexto histórico-filosófico do Renascimento e da formação das ideias de cortesia, civilidade e estética; o segundo investiga a ressonância estética presente na epistemologia de Locke, sobretudo no papel dos sentidos e da imaginação na constituição das ideias; o terceiro examina a dimensão estética de sua teoria educacional, com atenção à formação do gentleman, à disciplina do corpo e à educação do espírito. A justificativa para a pesquisa reside na necessidade de ampliar as interpretações sobre Locke, propondo uma nova chave de leitura que evidencia a centralidade da sensibilidade e da expressão estética na formação do indivíduo, unindo sua epistemologia e teoria educacional à possibilidade de uma reflexão estética, ainda que incipiente. O trabalho avança ao sugerir que há em Locke uma forma embrionária de educação estética, centrada na formação sensível e no refinamento do comportamento. Tal enfoque permite interpretar as boas maneiras e a disciplina dos sentidos não apenas como instrumentos morais e sociais, mas como elementos constitutivos de uma estética da conduta. Dessa forma, a dissertação propõe um diálogo entre Locke e o campo da estética e um avanço na compreensão do papel dos sentidos e da formação da percepção na filosofia lockeana, estimulando novas interpretações acadêmicas sobre o autor.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: JOHN LOCKE: A LIBERDADE EDUCACIONAL REPUBLICANA
Autor: Lucas Santos Pessoa
Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos
Ano: 2025
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo geral relacionar o pensamento político ao educacional de John Locke, sob o prisma da liberdade republicana. Para tanto, foi necessário recorrer a três objetivos específicos: 1 – analisar a liberdade política no Segundo tratado sobre o governo; 2 – examinar a liberdade na obra Alguns pensamentos sobre a educação; 3 – Pensar a liberdade republicana em meio aos valores individuais. Para viabilizar esses objetivos, utilizamos a metodologia do contextualismo linguístico que nos permitiu examinar o pensamento lockiano sem deixar de considerar o contexto no qual foi escrito. Diante disso, o problema da pesquisa é justamente pensar a tensão entre a liberdade republicana e a educação individualizada proposta por Locke. A questão que norteou a pesquisa é: seria possível uma educação baseada no indivíduo com valores políticos republicanos em Locke? Nesta perspectiva, ao defender sua noção de liberdade política – a qual possui grande proximidade com aquela defendida pela tradição republicana –, Locke utiliza, em alguma medida, sua proposta educacional como mecanismo para efetivá-la. Em outros termos, a noção de liberdade política exige mecanismos sem os quais se faz inviável concretizá-la. A lei é um dos mecanismos utilizados por Locke, ainda que insuficiente, fazendo-se substancial outro, a saber: a educação. Quando Locke chama atenção para a inclinação da criança a querer dominar outrem, isso não pode passar despercebido, visto que, se a noção de liberdade defendida pelo filósofo consiste em não estar sob o arbítrio de outrem, ao tentar conter as crianças que podem tornar-se opressoras, sua proposta educacional estaria contribuindo diretamente para que sua noção de liberdade possa ser efetivada. Dessa forma, as leis e a educação estariam cumprindo uma função: tornar concreta a liberdade política defendida pelo filósofo, o que nos permitiu relacionar política e educação em John Locke. À vista disso, acreditamos que a presente pesquisa poderá trazer contribuições às pesquisas acerca do pensamento político e educacional, especialmente as que buscam pensar tais aspectos sob o olhar republicano, o que escaparia de uma leitura mais convencional, isto é, a liberal.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: MAX SCHELER E A NOÇÃO DE DEUS: PESSOALIDADE E INDEMONSTRABILIDADE
Autor: Cleibson Américo da Silva Costa
Orientador: Prof. Dr.Edmilson Menezes Santos
Ano: 2025
RESUMO: A tese teve por objetivo recompor e analisar, tendo como base as obras de Scheler, as noções de pessoalidade e indemonstrabilidade, destacando como ambas apresentam um Deus pessoal capaz de se relacionar e se comunicar com o homem. Max Scheler, utilizando o método fenomenológico, procurou identificar os principais pontos de divergência entre o Ser Supremo, tal como é assimilado pelos filósofos (associado a uma ideia de perfeição absoluta, como em Descartes e Kant), e o Deus da religião, que é uma Pessoa divina que não pode ser demonstrada, mas apenas encontrada. Para Scheler, o Deus-Ideia não é propriamente um Deus, mas apenas uma noção racional que pode ser pensada, mas não experienciada. Sendo assim, a tese procurou se debruçar sobre o seguinte problema/questão: a separação entre experiência e pensamento, no contexto de uma filosofia da religião, faz as noções de pessoalidade e indemonstrabilidade divina ganharem que tipo de relevância? Para reconstituir a discussão em torno da reflexão de Scheler sobre a religião, a partir da problemática evidenciada, foi, inicialmente, mostrada a relevância que o método fenomenológico exerceu nas pesquisas e no direcionamento filosófico de Scheler, e como a fenomenologia possibilitou-lhe empreender uma compreensão emocional-espiritual da experiência religiosa. Em seguida, foi apresentado o conceito de Deus, conforme exposto pela filosofia moderna, e então analisada a crítica de Scheler à ideia filosófico-moderna do Ser divino. O alvo foi salientar os propósitos teóricos peculiares de tal contraposição, de modo a indicar um ponto de partida capaz de elucidar os elementos constitutivos da ideia scheleriana de Deus. Na terceira parte, foram examinadas as noções de pessoalidade e indemonstrabilidade divina para entender como elas influenciam a relação do ser humano com a divindade. Por fim, a quarta parte foi motivada pelo interesse em assinalar que a construção teórica de Max Scheler não se tornou mais uma demonstração nos moldes daquelas criticadas por ele. O olhar fenomenológico permeou toda a tese, desde a exposição das críticas formuladas pelo filósofo até suas concepções originais no terreno da filosofia da religião. Esse percurso levou-nos a concluir que as noções de pessoalidade e de indemonstrabilidade são imprescindíveis ao modo de pensar a relação entre o homem e a divindade, bem como a perceber que, as variações epistemológicas nas segunda e terceira fases da filosofia de Scheler impedem de apontá-lo uniformemente em sua vasta obra. Assim, a concepção fenomenológica do divino, no período intermediário, não recebe total continuidade na fase tardia do filósofo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: TRADUÇÃO E VOCABULÁRIO ESTOICO DE DIATRIBES DE MUSÔNIO RUFO
Autor: Cristóvão José dos Santos Júnior
Orientador: Prof. Dr. Aldo Lopes Dinucci
Ano: 2025
RESUMO: Em nosso trabalho, objetivamos traduzir as diatribes 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18A, 18B, 19 e 20 pertencentes ao filósofo estoico Caio Musônio Rufo (séc. I EC), por meio da edição crítica estabelecida por Hense (1905), bem como das contribuições de Lutz (1947), King (2011), García (1995), Dinucci (2012, 2019, 2022, 2023, 2023a), Dinucci e Prata (2022) e Dinucci e Cordeiro (2021). Assim, nosso trabalho se insere em projeto de pesquisa voltado para o processo de democratização do acesso a autor pouco estudado em língua portuguesa e que ainda não foi integralmente traduzido para nosso idioma. Também sentimos a necessidade de confeccionar vocabulário de termos estoicos, a fim tornar o pensamento musoniano mais acessível, no que desenvolvemos pesquisa na interface entre os estudos tradutórios e os estudos lexicais. No campo tradutório, nossa pesquisa foi subsidiada pelas contribuições teóricas e filosóficas de pensadores como Derrida (1991, 1995, 2001, 2002, 2008), Albrecht e Souza (2021), Arrojo (2007), Polchlopech e Aio (2009), Dalben (2018), Filippis (1994), Venuti (2019, 2021), Pym (2017), Lima e Siscar (2001), Rodrigues (2000, 2001), Santos (2021), Magris (2021) e Ottoni (2000, 2001), entre outros. Por fim, quanto ao campo dos estudos lexicais, contamos com as contribuições teóricas de Bevilacqua e Finatto (2009), Finatto (2001, 2020), Schierholz (2012), Biderman (2001, 2001a), Krieger (2001), Krieger e Finatto (2004), Barbosa (1995, 2001), Sardinha (2000), Welker (2007), Barreiros (2017), Fromm (2020), Budny (2017), Celli (2010), Ortigoza Guidotti (2018), Xatara (2007) e Costa (2015).
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A DESNATURALIZAÇÃO DO SEXO EM JUDITH BUTLER
Autor: Doramis Dória Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro
Ano: 2025
RESUMO: Este trabalho investiga a abordagem de Judith Butler sobre o sexo, entendendo-o não como “natural”/anatômico/fixo, mas como discursivo. A pesquisa se baseia em Corpos que Importam: Os limites discursivos do sexo (1996) e Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade (1990), analisando sexo e gênero como produções discursivas e corporeificadas. Contrário à noção de que o sexo é fixo e imutável, busca-se avaliar a hipótese de que a tese de Butler é correta. Primeiramente, examinamos a noção filosófica de “natureza” como origem e a construção do sexo como pré-definição dos indivíduos nas sociedades ocidentais. Em seguida, analisamos discursos de Rousseau (Emílio ou da Educação, 1992) e de outros autores, que ajudaram a consolidar a ideia do sexo como característica inerente, vinculada a uma natureza desigual entre os sexos. No segundo momento, discutimos os argumentos de Butler sobre sexo e gênero, investigando as práticas que estruturam a sociedade em dois sexos considerados complementares, com base em Problemas de Gênero. No terceiro capítulo, reconstruímos, a partir de Corpos que Importam, o processo de desnaturalização do sexo, analisando como práticas discursivas e performativas moldam as noções de corpo, sexo e gênero.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: UMA INVESTIGAÇÃO DO REALISMO DE LEIBNIZ: SOBRE O VALOR OBJETIVO DA VERDADE
Autor: Rayane Ribeiro dos Santos
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí
Ano: 2025
RESUMO: A presente pesquisa visa apresentar uma interpretação de que o filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) é um realista. Para tal, a pesquisa será dividida em dois movimentos, o primeiro consiste em, a partir do texto Dissertação sobre o estilo filosófico de Mário Nizólio (1670) de Leibniz, apresentar os argumentos de seu suposto nominalismo. Diante disso, enfrentaremos alguns comentadores do filósofo alemão que defendem essa interpretação para mostrar uma concepção oposta, que na verdade Leibniz é um realista. No final do primeiro movimento, iremos abordar dois livros importantes para caracterizar o realismo do filósofo alemão, sendo eles: Novos ensaios sobre o entendimento humano (1974) e A monadologia (1974) de Leibniz. Após a caracterização de uma interpretação realista de Leibniz, pretendemos analisar a carta de Leibniz à Princesa Sofia para compreender como a noção de espaço pode ser considerada um abstrato real. Por se tratar de uma questão filosófica e matemática, apresentaremos o problema do contínuo e divisibilidade dos objetos, por fim iremos explicitar o que Leibniz entende por espaço.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: EDUCAÇÃO E COMPREENSÃO EM HANNAH ARENDT: POR UMA EDUCAÇÃO PLURAL E PARA O MUNDO
Autor: Lillya Rhanna Silva Pereira
Orientador: Prof. Dr. Christian Lindberg Lopes do Nascimento
Ano: 2025
RESUMO: A presente pesquisa investigou o conceito de educação na perspectiva de Hannah Arendt, e partiu dos seguintes objetivos específicos: 1) Destacar o que é a crise da Modernidade e as suas implicações na educação; 2) Compreender a diluição entre vida pública e privada enquanto surgimento da esfera social e da sociedade de massas, e como essa sociedade se recusa a educar; 3) Avaliar uma relação entre a educação e a compreensão como uma oportunidade de reconciliar, cultivar e renovar o mundo ante a crise da Modernidade. A partir das análises dos ensaios A Crise na Educação e Reflexões sobre Little Rock e também da obra A condição humana, é possível notar que filósofa sustenta que a crise no mundo moderno perpassa diversos âmbitos: do público ao privado, econômico e social, e dentre elas, a educação. Essa última, por sua vez, de caráter pré-político para a filósofa, é uma atividade que assume dupla responsabilidade: cuidar do mundo e das crianças. A compreensão, por outro lado, é uma atividade reflexiva que não produz resultados termináveis, e que acompanha toda a vida, se realiza enquanto os indivíduos buscam se reconciliar com o mundo atribuindo sentido a ele. A pesquisa partiu das seguintes questões norteadoras: 1) Como a crise da Modernidade aparece na educação? 2) Qual a razão de uma sociedade massificada ser incapaz de assumir a tarefa dada pela educação? 3) Há espaço para a atividade compreensiva na educação? Quais efeitos na educação se pode obter a partir dessa relação? Dessas questões, foi apontado que a sociedade moderna é um fenômeno que vincula a esfera privada à esfera pública, onde os interesses do primeiro se sobrepõem aos do segundo, sendo, portanto, uma sociedade de massas, uma sociedade incapaz em assumir a responsabilidade pelo mundo e pela educação. O problemática da pesquisa é se a relação entre educação e compreensão pode ser traçada e quais implicações dessa relação para uma educação plural e para o mundo. Isso posto, foi adotado a metodologia hermenêutica, pois se compreende e/ou interpreta a possibilidade em estabelecer relações entre educação e compreensão como chaves de uma educação para a pluralidade humana e o mundo comum à luz do pensamento de Hannah Arendt e, a partir disso, estabelecer uma relação entre duas atividades (Educação e Compreensão), algo não realizado pela filósofa, ou seja, parte-se da compreensão do pensamento de Hannah Arendt, para ir além dele e interpretá-lo. Uma educação plural e para o mundo comum pode ser efetivada a partir da relação entre educação e compreensão, pois se de um lado, a educação é a atividade que insere os recém-chegados no mundo, a compreensão, promove uma reconciliação dos humanos com o mundo, consigo mesmo e com os outros, essa reconciliação é necessária em vista da herança da Modernidade que se assenta numa negação do mundo, isto é, por desconsiderá-lo como espaço da pluralidade humana.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ESPECULAÇÕES SOBRE O TEMPO: A PARTIR DE AGOSTINHO, UMA APORÉTICA DA TEMPORALIDADE VISTA EM PAUL RICOEUR NA OBRA TEMPO E NARRATIVA
Autor: Denis Ricardo da Silva
Orientador: Prof. Dr. Matheus Hidalgo
Ano: 2025
RESUMO: A pesquisa pretende apresentar e defender a hipótese de que existe uma noção aporética da temporalidade nos estudos de Paul Ricoeur, sobretudo no primeiro capítulo do tomo I e ao longo da primeira seção do tomo III de Tempo e narrativa (2010). Tendo isso em vista, bus- ca-se considerar que o princípio das experiências aporéticas desenvolvidas pela filosofia ricoeuriana encontra-se, fundamentalmente, na sua interpretação do problema postulado por Agostinho no livro XI de Confissões (2008). Desse modo, ao destacar a interpretação que faz dos estudos agostinianos, o pensador francês encaminha-se por um percurso de formulação argumentativa para fortalecer a tese segundo a qual “a especulação sobre o tempo é uma ruminação inconclusiva” (Ricoeur, 2010, p.16). Iniciado com Agostinho, o caminho investi- gativo de Ricoeur passa por uma análise de oposição entre o tempo do mundo, representado no livro IV da Física (2014) aristotélica, e o tempo da alma, representado pelo filósofo cris- tão. Isso acontece, em razão de exaltar as bases de uma aporética da temporalidade que existe tanto no debate entre as duas visões antagônicas sobre o tempo (Agostinho versus Aristóteles) quanto nas respectivas filosofias, separadamente. Sendo assim, no presente tra- balho, busca-se analisar (primordialmente) etapa por etapa de como Ricoeur consolida os fundamentos de uma aporética da temporalidade e no que consiste tal elaboração em con- texto de oposição entre Agostinho e Aristóteles. Como consequência disso, outro ponto fun- damental discutido nesta tese é a ampliação de uma aporética da temporalidade enraizada na oposição das filosofias de Agostinho e Aristóteles no contexto do debate crítico com a feno- menologia do tempo husserliana, presente no texto das Lições (1994). Portanto, considera-se, dessa forma, que a base aporética do tempo, de acordo com Ricoeur, serve também para al- cançar uma crítica especulativa à ambição fenomenológica do tempo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2024 ---------------------------------------------------------
TITULO: A NOÇÃO DE VERBUM MENTIS NO DE MAGISTRO DE AGOSTINHO DE HIPONA
Autor: Ronny Dennyson Monteiro Santana
Orientador: Prof. Dr. Nilo César Batista da Silva
Ano: 2024
RESUMO: A presente dissertação tem por finalidade investigar a noção de verbum mentis (“palavra interior”), a partir do diálogo De Magistro de Agostinho de Hipona. A questão norteadora desta pesquisa parte da premissa da ineficácia da palavra na significação e ostensão da coisa, postulada pelo filósofo de Hipona, que desperta o seguinte problema: Que tipo de mediação existe entre linguagem e conhecimento no interior da mente? A hipótese desta investigaçãofilosófica consiste na ideia de que no De Magistro já se encontram os elementos para se pensar a noção de “palavra interior” que, por sua vez, exerce a referida função de mediação tanto no processo de significação quanto no processo de cognição. Na primeira parte da pesquisa, analisa-se, no âmbito da linguagem, o problema da palavra e o seu papel admoestativo na memória. Ao compreender a insuficiência da palavra enquanto som na atividade cognitiva, discute-se, no segundo capítulo, a noção agostiniana da “palavra interior” e a sua natureza pré-linguística que articulam linguagem, pensamento e conhecimento. E, por fim, argumenta-se sobre a presença da noção de verbum mentis na obra De Magistro. O método filosófico escolhido para esta pesquisa bibliográfica foi o método hermenêutico, o qual auxiliou na interpretação das fontes primárias e dos comentadores, mantendo-se, assim, a tradição da maioria dos núcleos de estudos agostinianos. A partir da transversalidade da temática, esta produção textual poderá contribuir para futuras reflexões acerca das condições da formação do conhecimento sensível e inteligível, bem como se manifestam na linguagem despertando o interesse da comunidade acadêmica pelos principais objetos e problemas da teoria do conhecimento e da concepção de interioridade na história da Antiguidade Tardia e da Filosofia Medieval.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O ATEÍSMO NA FILOSOFIA DE ARTHUR SCHOPENHAUER
Autor: Antunes Ferreira da Silva
Orientador: Prof. Dr. Arthur Eduardo Grupillo Chagas
Ano: 2024
RESUMO: A presente tese analisa o ateísmo que existe no organismo filosófico do alemão Arthur Schopenhauer, que, segundo Nietzsche, teria sido o primeiro alemão confessadamente ateu. Uma parte desse ateísmo está exposta em sua tese de doutorado Sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, mas esta pesquisa pretende buscar os fundamentos de tal ateísmo para além do que está diretamente exposto nela, sendo necessário perpassar itens importantes do organismo filosófico schopenhaueriano: 1 - a matéria apresentada como algo que não pode perecer e nem surgir, sendo una, infinita e absoluta; 2 - o significado da vida e a dor do mundo, que mostra o sofrimento contínuo e a falta de satisfação por parte dos indivíduos; 3 - a habilitação de uma religiosidade que não necessite deuma divindade; 4 - a mística diante do silenciamento dos conceitos advindos da razão abstrata; e 5 - o entendimento da Vontade enquanto coisa-em-si. Esta pesquisa filosófica foi desenvolvida com base em uma análise hermenêutica das suas principais obras: O mundo como vontade e como representação, Parerga und Paralipomena, Sobre a vontade na natureza e outras, combinada com a investigação de suas correspondências pessoais (Epistolário), especificamente as cartas, como forma de apoio à argumentação central. Alguns comentários relevantes e pertinentes aos temas feitos por outro(a)s pesquisadore(a)s também foramusados. A hipótese defendida nesta pesquisa é a existência de um ateísmosistêmico na filosofia schopenhaueriana que não se limita ao que o filósofo expôs de modo mais direto. A análise da argumentação em favor do ateísmo intrínseco ao organismo filosófico aborda três nuances de argumentos: uma fraca, que abrange o ateísmo cosmológico (que emerge de sua concepção de matéria) e o ateísmo que emerge do seu pessimismo, elemento característico desta filosofia; uma nuance complementar, que abrange sua concepção de religião ateia e sua mística agnóstica; e uma nuance forte, caracterizada por seu irracionalismo, através do qual é analisada a objeção de que Schopenhauer teria negado a existência de Deus e, ao fim, ter transposto Deus para a Vontade, já que a divinização da Vontade é impossível, dado o irracionalismo que dela provém. Portanto, uma vez comprovada argumentativamente tal hipótese, foi possível concluir que o ateísmo schopenhaueriano, apesar de complexo e intricado de confusões, é sistêmico e se origina mais fortemente no seu irracionalismo (seu argumento mais forte), mas também é relevantemente perpassado pelas nuances cosmológica, pessimista (seu argumento mais fraco) e místico-religiosa (seu argumento complementar).
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ECKHART DE HOCKHEIM: LINGUAGEM E ABANDONO DE SI
Autor: Elves Franklin Bispo de Araujo
Orientador: Prof. Dr. Cicero Cunha Bezerra.
Ano: 2024
RESUMO: A presente dissertação pretende apresentar o caráter apofático da linguagem na obra eckhartiana no que se refere a sua escrita, bem como à metafísica em suas bases místicas presentes, em particular, nos Sermões alemães. O esforço será o de compreender o exercício hermenêutico dos seus escritos como expressão de abandono, tanto da própria linguagem, enquanto modo de dizer, como de Deus, tomado como “objeto” de discurso. Para tanto, nossa pesquisa se pautará na análise, exposição e compreensão das bases filosóficas (neoplatônicas) em sua obra e na confrontação da fortuna crítica sobre o mestre turigiano. Partimos do pressuposto de que a linguagem apofática é um recurso necessário no pensamento eckhartiano, pois consegue transmitir, sem cair em um puro discurso lógico-predicativo, a mais importante noção da obra do dominicano: a de Deus como Nada. Nesse sentido, nossa hipótese de trabalho é a de que o conhecimento em Eckhart converge, por um lado, em uma “experiência mística” a qual só pode ser alcançada por uma postura de vida que compreende a realidade a partir do vínculo dialético entre multiplicidade e unidade, e, por outro, da linguagem como modo de dizer o que, por princípio, é “sem modo”, isto é, Deus em sua inefabilidade.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O PENSADOR E O MUNDO: A DIMENSÃO FILOSÓFICA DA CRÍTICA LITERÁRIA EM EDWARD SAID
Autor: Ahmed Hussein El Zoghbi
Orientador: Prof. Dr. Antonio José Pereira Filho
Ano: 2024
RESUMO: O objetivo desta tese é investigar como Edward Said, intelectual palestino e autor de Orientalismo: a invenção do Oriente pelo Ocidente e Cultura e Imperialismo, elabora um método que contribui para o que será seu projeto intelectual, cujo objetivo é, entre outros, apontar para os limites e equívocos de um essencialismo presente em trabalhos de intelectuais coetâneos e que o antecederam. É possível afirmar que Said só consegue realizar esse projeto munido de um método que considere a erudição e a abordagem filológica instrumentos para a análise das realizações humanas, já que revelam o modo como se articulam para a reprodução do pensamento hegemônico do poder. O humanismo crítico, o exílio e os métodos de leitura e análise contrapontísticas, constituintes de suas reflexões tanto políticas quanto acadêmicas, compõem parte do arcabouço de sua teoria ou modo de pensar, e foram mobilizados para o enfrentamento a teorias estéreis do combalido establishment intelectual de seu tempo, especialmente o europeu e o estadounidense. Sendo ele um intelectual público envolvido na crítica ao Imperialismo, dedicou-se particularmente à defesa da Causa Palestina. As reflexões sustentadas por seu humanismo serviram-lhe de instrumentos no combate contra o apagamento da história e da cultura da última das colônias do mundo contemporâneo, uma vez que a questão da Palestina atravessa todo seu trabalho acadêmico e político. O Humanismo crítico (base teórica), o exílio (condição e perspectiva em que se colocava) e o contraponto (método de leitura e análise) se complementam, dialogam e estão conectados naquilo que se definiu aqui como seu projeto intelectual, o que lhe conferiu lugar de destaque no panteão dos grandes pensadores do século XX.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: AN-ARCHIA SAGRADA NA HERMENÊUTICA DE JOHN D. CAPUTO
Autor: José Antonio Santos De Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Cícero Cunha Bezerra
Ano: 2024
RESUMO: O pensamento filosófico ocidental tem sido, historicamente, permeado pela indagação acerca da natureza intrínseca e da dinâmica estabelecida entre a condição humana e a divindade. Esta investigação se torna particularmente complexa quando se considera a representação de um Deus revelado por meio de textos sagrados, como encontrados no Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Nesse contexto, a relação entre o ser humano e Deus se manifesta de maneira profunda e intricada, demandando uma abordagem hermenêutica para a compreensão da "palavra" divina. Ao nos debruçarmos sobre o cristianismo, base paradigmática desta análise, a linguagem se torna o epicentro de uma experiência que, paradoxalmente, se enraíza na letra escrita, mas encontra sua essência no âmbito espiritual que, aqui, corresponde ao hermenêutico. Os critérios interpretativos surgem, portanto, como filtros que podem resultar em experiências libertadoras, mas também em interpretações dogmáticas e extremistas. Este estudo visa explorar, a partir das obras do filósofo John D. Caputo (1940), a concepção de Deus como “evento” (Event), destacando sua característica de fragilidade em conexão com a expressão subversiva da "Anarquia Sagrada". Esta abordagem hermenêutica propõe uma visão do “reino de Deus” como uma inversão radical de qualquer hierarquia estabelecida. Para alcançar esse objetivo, nos centramos nas obras The Weakness of God: A Theology of the Event (Indiana University Press, 2006), After the Death of God, with Gianni Vattimo (Columbia University Press, 2007), The Insistence of God: A Theology of Perhaps (Indiana University Press, 2013), The Folly of God: A Theology of the Unconditional (Polebridge Press, 2015), e Hermeneutics: Facts and Interpretation in the Age of Information (Pelican, 2018). Nosso intento é compreender em que medida a concepção de Deus como evento se situa na fronteira de uma teologia marcada pela debilidade, que se revela, primordialmente, como um recurso interpretativo empregado por J. Caputo para estabelecer a noção de fragilidade divina como condição para sua concepção de "anarquia Sagrada". Esta ideia, ao contrário das visões metafísicas fundacionistas, baseia-se em uma experiência profunda de liberdade. Para tanto, dividimos nossa pesquisa em quatro módulos distintos. Primeiramente, abordamos a relação entre o conceito de acontecimento e a esfera religiosa, identificando e analisando as fontes filosóficas que influenciam a filosofia da religião de Caputo. Em seguida, procederemos com a análise da definição de uma filosofia do evento. Posteriormente, buscaremos delinear uma teologia do evento como uma proposição derivada, mas singular, em sua relação com a teologia cristã. Por fim, iremos analisar os conceitos de "debilidade de Deus" e "anarquia sagrada", a partir da noção de hermenêutica radical proposta por John Caputo. Esta abordagem visa contribuir para a compreensão do pensamento caputiano no contexto das reflexões contemporâneas em torno da Filosofia e Teologia, explorando conceitos fundamentais através de uma análise detalhada e crítica das obras de John D. Caputo, visando uma compreensão mais ampla e elucidativa da relação entre divindade, fragilidade e liberdade.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O CONCEITO DE VALOR-TRABALHO EM MARX: Análise, crítica e remodelagem no contexto da Inteligência Artificial.
Autor: Luiz Manoel Andrade Meneses
Orientador: Prof. Dr. Romero Junior Venâncio Silva
Ano: 2024
RESUMO: A presente tese perfaz a análise, a crítica e a remodelagem do conceito marxiano de valor- trabalho, elemento fundante da filosofia marxista. Marx concebeu a sua teoria do valor-trabalho a partir da observação empírica das transformações sociais ocorridas durante a Primeira Revolução Industrial. Atualmente, na Quarta Revolução Industrial, vivencia-se a proliferação de aplicações da Inteligência Artificial fundadas no aprendizado de máquina ou aprendizado profundo, que precisa ser compreendido por meio de sua base empírica, a fim de revalidar o conceito marxista de valor-trabalho à realidade atual. Por conseguinte, busca-se uma releiturado conceito de valor apresentado no Livro I de O Capital, em diálogo com a hodierna teoria da Análise Essencial de Sistemas diante dos desdobramentos da Inteligência Artificial e de seus impactos na realidade fática. Para tanto, metodologicamente aplicar-se-ão para tal proposta tanto conceitos do Materialismo Histórico-Dialético quanto da Análise Essencial de Sistemas. Desse modo, faz-se uma proposta de remodelagem do conceito marxista de valor-trabalho que agregue a Inteligência Artificial por aprendizagem de máquina, mediante utilização dos organizadores gráficos, diagrama de contexto, diagrama de fluxo de dados e diagrama de entidades e relacionamentos. Sustenta-se que a atualização do conceito de valor-trabalho à dinâmica da evolução produtiva é crucial para a evolução da tradição filosófica marxista, ao tempo em que suscita prognósticos distópicos (vigência do valor-trabalho marxiano com aprofundamento das desigualdades do capitalismo, singularidade tecnológica e transumanismo) e utópicos (regulamentação na área da Inteligência Artificial, socialismo e comunismo) para o devir da sociedade humana.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DAS PALAVRAS AO PACTO: A LINGUAGEM COMO FUNDAMENTO EM THOMAS HOBBES
Autor: Mariana Dias Pinheiro Santos
Orientador: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva
Ano: 2024
RESUMO: Defendo que a linguagem, em Thomas Hobbes, por ser o fundamento de sua filosofia, pode ser entendida, em última instância, como um pacto de entendimento e de vontades. Sendo assim, não apenas os nomes e a verdade decorrem da convenção linguística, mas todos os tipos de regras e princípios são fruto de um contrato linguístico que atende às necessidades, às convenções e às vontades dos humanos. Com o objetivo de provar esta hipótese, foi necessário provar, primeiro, como a linguagem ocupa o lugar de fundamento na filosofia de Hobbes. Sendo assim, partiu-se de uma investigação dos primeiros escritos do filósofo, passando pelos ecos que a tradição e os seiscentos podem ter proporcionado para seus argumentos maduros, bem como pela forma como o filósofo pode ter incorporado a geometria em seu método. Desse percurso (e, no geral, ao longo dele), foi possível apresentar não apenas como a linguagem recebe uma crescente atenção e aprofundamento da parte do filósofo de Malmesbury, como a sua filosofia da linguagem se estabelece mas, também, extrair que a própria linguagem é um pacto — do que se abre uma nova entrada para investigar os argumentos a respeito da natureza propostos por Hobbes.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DÚVIDA CARTESIANA VERSUS DÚVIDA CÉTICA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA
Autor: Dante Andrade Santos
Orientador: Prof. Dr. Matheus Hidalgo
Ano: 2024
RESUMO: O objetivo deste trabalho é oferecer uma caracterização da dúvida cartesiana, a partir de uma análise comparativa entre dúvida cartesiana e dúvida cética, e tomando a hipótese da loucura como o fio condutor da investigação. Para avançar na compreensão das questões que orbitam em torno da dúvida, julgamos necessário analisar o suposto caráter cético da dúvida cartesiana: é adequado caracterizá-la como uma dúvida cética? Em que medida ela se aproxima e em que medida se afasta da dúvida cética? Para responder essas questões, a primeira meditação será o ponto de partida da análise, mas a comparação com outras formulações da dúvida, expostas em outros textos, será um recurso metodológico constante neste trabalho. O texto está dividido em três capítulos. No primeiro, apresentaremos o eixo argumentativo da primeira meditação e analisaremos os aspectos retóricos do texto, situando-os no contexto da exposição analítica. No segundo, faremos a análise comparativa entre dúvida cartesiana e dúvida cética. Tomaremos como parâmetro a concepção de ceticismo proposta no livro I das Hipotiposes Pirrônicas de Sexto Empírico e os dez tropos céticos atribuídos a Enesidemo, especialmente o 4o tropo, cujo tema são as circunstâncias. Além disso, analisaremos a formulação do argumento da loucura elaborada por Oswaldo Porchat. Por fim, no terceiro capítulo, discutiremos duas leituras que defendem a tese da identidade entre dúvida cartesiana e dúvida cética. A primeira leitura é proposta por Thomas Lennon e sugere uma filiação de Descartes ao ceticismo acadêmico formulado por Arcésilas. A segunda leitura aproxima a dúvida cartesiana da dúvida formulada por Pierre Charron. Embora reconheçamos o caráter equívoco do texto cartesiano, esperamos reunir elementos para sustentar que não há identidade ou equivalência entre dúvida cartesiana e dúvida cética; e que ela possui uma função terapêutica que não se confunde com a terapêutica promovida pelos argumentos céticos. Do nosso ponto de vista, longe de ser um tema menor, o tema das patologias, ao oferecer uma nova via de acesso para caracterizar a dúvida cartesiana, coloca-nos em uma posição melhor para compreender e avaliar o projeto filosófico de Descartes...
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A MARCA DA NEGATIVIDADE NO REPUBLICANISMO MAQUIAVELIANO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O SIGNIFICADO POLÍTICO DO DESEJO POPULAR DE NÃO SER DOMINADO
Autor: Emerson Calistro De Souza
Orientador: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva
Coorientadora: Profa. Dra. Flávia Benevenuto
Ano: 2024
RESUMO: Essa pesquisa parte da teoria conflitiva dos humores presente no pensamento republicano de Maquiavel. De acordo com o florentino, em toda república há dois humores diferentes, o dos grandes e o do povo. Os grandes desejam dominar e oprimir o povo, e o povo, por sua vez, deseja não ser dominado nem oprimido pelos grandes. O nosso objetivo geral se encontra situado na oposição constitutiva demarcada pelos humores de grandes e povo, e o objetivo específico está centrado no significado político da negatividade do desejo popular de não ser dominando. Dito isso, vale destacar o nosso problema de pesquisa, a saber: como a experiência política do negativo funda os universais políticos históricos, leis e direitos, enquanto marca da negatividade universal do desejo popular, deixada pelo povo na história? Para dar conta do problema de pesquisa que formulados, nós apoiamos na conceitualização do desejo do povo proposta por Claude Lefort, a saber, o desejo do povo é pura negatividade e indeterminado, desejo sem objeto, bem como na sugestão de leitura avançada por Sérgio Cardoso que propõe radicalizar a negatividade e a indeterminação, levado tais categorias do político até as últimas consequências republicanas, qual seja: a produção das leis e dos direitos. Nesse sentido, a negatividade não é uma abstração teórica do político, mas uma marca que pode ser constatada no campo da contingência própria da política, na forma de universais políticos-históricos, leis e direitos, confirmando, com isso, a origem e o fundamento de uma autêntica república. Nesse sentido, pensar a negatividade no sentido da produção dos universais políticos-históricos não contradiz a veritá effectuale maquiaveliana, pelo contrário, desvela a realidade republicana como ela é: cindida pela experiência política do negativo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2023 ---------------------------------------------------------
TITULO: A QUERELA MARE LIBERUM-MARE CLAUSUM NO JUS GENTIUM DE GROTIUS E A CONSOLIDAÇÃO MARES ENQUANTO COISA DE USO COMUM
Autor: Sinizio Lucas Ferreira de Almeida
Orientador: Prof. Dr. Evaldo Becker
Ano: 2023
RESUMO: O objetivo do presente trabalho visa apresentar a influência da teoria da liberdade dos mares defendida pelo filósofo e jurista neerlandês Hugo Grotius e como essa ideia influenciou na contemporaneidade os debates e tratados acerca do uso dos mares de forma aberta e livre entre todas as nações. Para tanto, examinaremos duas de suas obras a respeito do tema, Mare Liberum (1609) e no Direito da guerra e da paz (1625). Partindo do conceito de jus gentium (direito das gentes), o jurista neerlandês defenderá o uso dos mares por todas as nações de Forma livre, contrapondo-se as intenções monopolistas das nações ibéricas, Espanha e Portugal, que durante os séculos XVI e XVII expandiram-se comercialmente para além das suas fronteiras e outorgaram para si a posse de todos os mares e terras ditas “descobertas”, monopolizando o comércio com essas regiões e impedindo que outras nações exercessem o mesmo direito. Diante dessa questão, as obras de Grotius representou uma nova reflexão para os diversos choques de interesse econômicos e nas relações éticas entre os Estados. A partir desse ponto, analisaremos o cenário histórico de publicação das obras, a repercussão e os opositores à liberdade dos mares e como, na contemporaneidade, suas ideias foram fundamentais direcionar a constituição das Convenções do Alto Mar (1958) e da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982), tratados que regulamentam o direito marítimo hodierno.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS: UMA PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO
Autor: Alípio José Viana Pereira Neto
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci
Ano: 2023
RESUMO: Trata-se de tese de doutorado cujo objetivo é apresentar um sistema de classificação para as falácias argumentativas capaz de, a partir de critérios objetivos, servir como ferramenta pragmática para análise e avaliação da argumentação, além proporcionar uma melhor compreensão do argumento na dinâmica do processo de comunicação argumentativa. Inicialmente, fizemos um breve resumo sobre o estado da arte da classificação das falácias, ao passo que apresentamos a metodologia empregada a fim promover o referido sistema de classificação. Seguimos duas linhas investigativas: uma no que diz respeito aos mecanismos cognitivos que explicam a vocação persuasiva das falácias e a outra concernente aos parâmetros normativos que esclarecem as incorreções por elas cometidas. Com base nas referências encontradas em nossas investigações apresentamos os primeiros critérios de classificação: o argumento isolado do contexto e o argumento em função do processo de comunicação. Primeiramente, abordamos o argumento isolado: detalhamos sua estrutura e, assim, delimitados alguns subcritérios. Na sequência, ocupamo-nos dos recursos persuasivos empregados pelas falácias e do processo de comunicação argumentativa como parâmetro para analisar e avaliar o argumento. Por fim, apresentamos dois sistemas de classificação distintos: um, quanto aos parâmetros armativos desrespeitados, e o outro, quanto aos mecanismos persuasivos manejados. Contudo, apesar de sistemas diferentes, eles se inter-relacionam segundo o papel do argumento em um processo de comunicação argumentativa, praticado por sujeitos que, naturalmente, realizam um processamento cognitivo parcial da informação.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A CRÍTICA NIETZSCHIANA AO SUJEITO E O ESTATUTO DO CORPO
Autor: Nelson Lopes Rodrigues
Orientadora: Prof. Dr. Mariana Lins Costa
Ano: 2023
RESUMO: A presente investigação propõe compreender a crítica de Nietzsche ao conceito de sujeito e a importância do estatuto do corpo como fio condutor de sua crítica no registro histórico da tradição metafísica. Segundo Nietzsche, a filosofia convencionou a ideia de um sujeito com características “atomistas”, ou seja, como se fosse uma categoria essencialista. Nesta dissertação, pretendemos investigar a natureza dos conceitos de “eu”, sujeito, consciência, subjetividade à luz da noção nietzschiana de fisiopsicologia tal qual estabelecida na fase mais madura da sua filosofia. O corpo é o fio que conduz à crítica do filósofo à ideia de sujeito metafísico; corpo que é compreendido como uma estrutura de muitas almas, o que é o mesmo que muitas lutas entre vontades de poder, e daí que, para ele, não haja “um” sujeito, como tampouco um “eu” soberano. Na filosofia nietzschiana, esta organização biológica, o corpo, passa a ser compreendida como uma forma hierarquizada de instintos que lutam por um plus a mais de força, e cujo fundamento é a sua doutrina da vontade de poder. A relevância desta pesquisa consiste na tentativa de demonstrar que Nietzsche é um crítico radical da noção de sujeito, a partir do estatuto do corpo. A pesquisa se conclui com a ideia de que sendo, para o filósofo, o corpo a consequência de uma organização hierárquica entre vontades, a nossa percepção deste enquanto uma unidade é apenas uma interpretação de corpos esgotados.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E IDEOLOGIA NO CÍRCULO DE BAKHTIN E NA FILOSOFIA MARXISTA
Autor: Vicente Fiscina Neto
Orientador: Prof. Dr. Romero Venâncio
Ano: 2023
RESUMO: O tema desta pesquisa refere-se à relação entre linguagem e ideologia. uma relação que admite o signo como portador de algo ideológico, constituindo assim duas categorias que de certo modo seriam indissociáveis, interligadas de tal maneira que, caso ocorresse uma separação, não fariam sentido algum, pois se tornariam estéreis, isoladas. essas categorias seriam, a saber, a ideologia e a linguagem. qualquer objeto, produto de consumo ou algum instrumento de uso diário, por exemplo, pode ganhar um sentido, isto é, pode tornar-se um signo ideológico. em razão disso, pode-se perceber a existência de um “mundo dos signos”, portanto, de um mundo ideológico, visto que ambos os mundos se confundem entre si. Esta temática está presente na obra marxismo e filosofia da linguagem atribuída ao pensador russo valentin volóchinov (1895-1936), mas que alguns especialistas entendem pertencer a mikhail bakhtin (1895-1975), publicada em meados do século passado. Este trabalho de pesquisa, nesse sentido, buscará problematizar a respeito dessa relação entre ideologia e linguagem através de elementos conceituais da filosofia apresentada pelos pensadores alemães karl marx (1818-1883) e friedrich engels (1820-1895) em a ideologia alemã – notadamente no que se refere ao conceito de ideologia, em especial, e os demais conceitos correlatos – e na obra supracitada dos pensadores russos. neste trabalho, a princípio, a preferência será por adotar o nome de ambos, pelo fato de se ter adotado a obra marxismo e filosofia da linguagem atribuída tanto a volóchinov quanto a bakhtin, incluir-se-á o termo bakhtin/volóchinov.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: INTERSECCIONALIDADE E VIDAS DISSIDENTES: DESCONSTRUÇÃO DO SUJEITO CARNOFALOGOCÊNTRICO EM UMA PRÁXIS ECOFEMINISTA
Autor: Poliana Gomes Mourilhe
Orientador: Prof. Dr. Marcelo De Sant’Anna Alves Primo
Ano: 2023
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir de um viés interseccional, a justaposição entre diferentes formas de dominação, mais especificamente o sexismo e o especismo, a fim de identificar os desdobramentos dessas interconexões. No primeiro capítulo será apresentada a obra O Animal que Logo Sou, de Jacques Derrida, com vistas a analisar os pontos comuns e os limites existentes entre o animal e o humano, a partir do que seria determinado, segundo Derrida, como o próprio do homem. Objetiva-se assim observar em que medida tal limite legitimaria o assujeitamento dos demais viventes. Será apresentado o conceito de senciência como outra forma de limite, como fronteira comum a ser considerada entre humanos e não humanos. No segundo capítulo, intenciona-se apresentar os conceitos de carnismo, carnofalogocentrismo e política sexual da carne de maneira a, a partir daí, desenvolver uma análise voltada às imbricações entre gênero e espécie, como pilares comuns às estruturas sexista e especista. Serão então examinados os atributos característicos da subjetividade dominante estabelecida, especialmente no ocidente, a partir da ótica dos conceitos apresentados. No terceiro capítulo será apresentada a teoria ecofeminista, em sua vertente animalista, como contraponto necessário e como forma de resistência à dominação exercida sobre mulheres e animais não humanos. Dessa forma, buscar-se-á desenvolver uma argumentação voltada a apresentar a contribuição da teoria ecofeminista para a desconstrução do sujeito carnofalogocêntrico.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: SUBJETIVIDADE CAPITALÍSTICA E ECOSOFIA SEGUNDO FÉLIX GUATTARI
Autor: Edilene Nunes Soares Santos
Orientador: Prof. Dr. Antônio José Pereira Filho
Ano: 2023
RESUMO: o objetivo geral desta dissertação é analisar os conceitos guattatirianos de subjetividade capitalística e ecosofia. a obra as três ecologias, de félix guattari, é central em nossa dissertação pois encontramos nesta os conceitos que nos debruçaremos. Assim, os objetivos específicos são três: 1) estudar o conceito de “subjetividade capitalística” em diferentes textos do autor para mostrar como esta noção assume um papel importante, sobretudo em suas últimas obras, como é o caso de as três ecologias; 2) analisar como, segundo guattari, o capitalismo mundial integrado (cmi) está implicado numa perspectiva que pretende reduzir o papel dos “agenciamentos coletivos de enunciação” e, portanto, de uma “subjetividade subversiva”, tal como a entende guattari. 3) demonstrar como a noção de ecosofia, em guattari, funciona como referencial teórico para a organização da práxis, desdobrando-se em três registros transversais: o campo ambiental, o campo social e o campo da subjetividade humana. analisaremos, portanto, as noções de subjetividade capitalística e de ecosofia, desenvolvidas por félix guattari, visando mostrar que estas noções, tal como as compreende o autor, são inseparáveis de uma perspectiva de reflexão teórica e de engajamento social frente ao modo de produção capitalista e o avanço de destruição planetária imposto por esse sistema. Para tanto, daremos ênfase aos últimos textos publicados pelo autor, com destaque para a obra as três ecologias, dentre outros.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DA LÓGICA DO SENTIDO PARAA DOBRA: A TRANSIÇÃO PARA A POSSIBILIDADE DE UMA NOVA PERSPECTIVA ACERCA DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA EM DELEUZE
Autor: José Lino Da Cruz Júnior
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí.
Ano: 2023
RESUMO: A presente pesquisa tem por fito mostrar o processo de transição para uma nova concepção deleuziana de “sujeito” e de história da filosofia a partir da obra o anti-édipo. Para tal, esquadrinharemos inicialmente a obra lógica do sentido, na qual já há o registro de uma perspectiva original de “sujeito” e de história da filosofia. E uma vez elucidada a serventia da apropriação deleuziana do conceito leibniziano de mônada no referido livro, e elucidados os conceitos substancialmente inovadores já presentes ali, procederemos a comparação com a obra a dobra: leibniz e o barroco. Um livro produzido com base nos temas da obra lógica do sentido. Posteriormente nos encaminharemos para analisar a ruptura com o livro lógica do sentido a partir da obra o anti-édipo. o “sujeito” que emerge desta obra é agora de natureza sociocultural, seu inconsciente também é um produto da história. O paralelo traçado com o materialismo histórico marxista corrobora a nossa conclusão. Com efeito, tal ruptura acarretou mudanças epistemológicas consideráveis — naquela perspectiva deleuziana suprarreferida, a saber, naquela perspectiva original de sujeito apresentada na obra lógica do sentido — que perpassaram as obras subsequentes e culminaram na obra a dobra: leibniz e o barroco. Nesta, conforme constataremos, em decorrência das mudanças da noção de sujeito e história da filosofia identificadas na obra o anti-édipo, a filosofia leibniziana é introduzida num movimento cultural (o barroco), e é lida a partir dele.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: CONTRASSENSOS E CONTRADIÇÕES: UMA ABORDAGEM ANTIRREALISTA AO PROBLEMA DA EXCLUSÃO DAS CORES NO PRIMEIRO WITTGENSTEIN
Autor: Bruno Rolemberg Dantas Barreto
Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio da Silva Filho
Ano: 2023
RESUMO: Neste trabalho, realiza-se uma interpretação antirrealista da teoria da figuração tractariana em diálogo com a leitura do de Marie McGinn, em especial, de sua tese de que a lógica é a essência dos sistemas de representação. Propõe-se, a partir dessa interpretação, uma abordagem ao problema da exclusão das cores que consiste em mostrar que a adição da categoria lógica da exclusão é a introdução de um recurso semanticamente informado à sintaxe lógica tractariana. Argumenta-se ainda que a adição dessa categoria foi uma modificação na estrutura do sistema lógico tractariano com vistas ao restabelecimento de sua função.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A CONCEPÇÃO DE COMMONWEALTH NO LEVIATÃ DE THOMAS HOBBES E NOS DOIS TRATADOS SOBRE O GOVERNO DE JOHN LOCKE
Autor: Solange Almeida Lima
Orientador: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva
Ano: 2023
RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo investigar a concepção de commonwealth nas teorias políticas dos filósofos ingleses Thomas Hobbes (1588-1679), no Leviatã (1651), e John Locke (1632-1704), nos Dois tratados sobre o governo (1689). Neste estudo, mostraremos a relevância do pensamento político desses dois autores para a delimitação dos contornos do Estado moderno e a reflexão sobre a ideia de commonwealth ou república. Para isso, destacamos que o termo “commonwealth” referia-se às coisas comuns do Estado ou da república, como também para tais autores ingleses do século XVII, era usado para significar comunidade política organizada. Além disso, naquele período, a república podia ser monárquica, autoritária ou até mesmo popular, no entanto, o importante é ressaltar que tal termo era utilizado amplamente pelos ingleses em referência à república. Nesta pesquisa, o método utilizado foi o contextualismo conceitual ou linguístico atribuído a Quentin Skinner em sua abordagem da história do pensamento político inglês. Para Hobbes e Locke, as ideias de dever político, Estado civil, república, governantes, governados, poder estatal e soberania eram antecedidas de um estado de natureza, e somente com a celebração do pacto social haveria a transferência de poderes e direitos ao soberano. Assim, Hobbes e Locke tinham concepções diferenciadas sobre estado de natureza, estado de guerra, o surgimento das comunidades políticas ou sociedades de indivíduos e demais aspectos que originariam o Estado civil e a república ou commonwealth.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A NOÇÃO DE ALIENAÇÃO NA OBRA A ESSÊNCIA DO CRISTIANISMO DE LUDWIG FEUERBACH E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A NOÇÃO DE ATEÍSMO
Autor: Marina Pereira da Silva
Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Sant’Anna Alves Primo
Ano: 2023
RESUMO: O objetivo deste trabalho é destacar o conceito central de alienação na obra A Essência do Cristianismo (1841) de L. Feuerbach. Reconhecido como um dos precursores do ateísmo contemporâneo, Feuerbach rompe com os princípios do idealismo alemão de Hegel, empregando um método filosófico-crítico que se concentra na crítica à teologia de sua época, a qual ele argumenta que deriva da projeção das características humanas na ideia de Deus. Para fundamentar sua crítica, o autor realiza uma análise que transforma a teologia em antropologia, colocando o ser humano e sua essência como o cerne da investigação teológica e filosófica. Ao examinarmos essa estrutura argumentativa, percebemos que a obra em foco promove um ateísmo ético que reconfigura a maneira de abordar a religião. Nessa perspectiva, Feuerbach reconstrói a religião em sua forma original, entendendo-a como uma resposta humana às necessidades concretas impostas pelo ambiente, ao mesmo tempo em que contesta a visão dogmática e fantasiosa que ela adquiriu ao longo do tempo. Este estudo se baseará principalmente na obra "A Essência do Cristianismo" do autor, e também incorporará insights de comentaristas e acadêmicos complementares. O propósito desta pesquisa é demonstrar, através da análise dos argumentos de Feuerbach, como o conceito de alienação desempenha um papel crucial em sua crítica ateísta, destacando assim a relevância deste conceito na visão filosófica do autor.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O USO DO ELENCHUS NA APOLOGIA DE SÓCRATES
Autor: Jorge Fernando De Lima Vasconcelos Júnior
Orientador: Prof. Dr. Aldo Lopes Dinucci.
Ano: 2023
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo o estudo do uso do elenchus (inquérito socrático) na obra Apologia de Sócrates escrita por Platão, que relata o julgamento de Sócrates. Faremos, em primeiro lugar, uma apresentação do Sócrates histórico. Em seguida, faremos um estudo do elenchus socrático como forma pedagógica de aprendizado e também produtivo modo de refutação. Para Sócrates, o processo elênquico é essencial para demonstrar que seus interlocutores julgam saber o que na verdade não sabem. Por fim, apresentaremos, com breves comentários, instâncias de processos elênquicos na Apologia de Sócrates, de Platão.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: VALORES E A TECNOCIÊNCIA EM JAVIER ECHEVERRÍA
Autor: Manoel Rodrigues Pessoa Filho
Orientador: Prof. Dr. Adilson Alciomar Koslowski
Ano: 2023
RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo geral explicar como atuam os valores na prática tecnocientífica segundo a filosofia do espanhol Javier Echeverría. Postula-se que as ações dos agentes tecnocientíficos são guiadas por valores e, com efeito, ontologicamente os valores não são compreendidos como substâncias ou entidades abstratas, mas como ações realizadas em determinados contextos. No Capítulo 1 “Os metacontextos da axiologia echeverriana” são descritos três metacontextos que situam a filosofia echeverriana no contexto da filosofia da ciência do século XX, enfocando, a saber: o giro prático na filosofia da ciência do século XX, a centralidade dos valores na prática científica e os cinco contextos da educação, inovação, avaliação, aplicação e financiamento. No Capítulo 2 “A natureza e o desenvolvimento da tecnociência” discorre-se sobre a natureza e o desenvolvimento histórico da tecnociência, sendo essa, em via, um novo e complexo modo de se fazer ciência. Logo, a tecnociência se desenvolve historicamente em duas fases: a primeira, denominada de macrociência, é caracterizada por megaprojetos militares e a segunda, qualificada de tecnociência propriamente dita, tem por principal agente de projetos tecnocientíficos o setor privado. No Capítulo 3 “Os valores e a tecnociência” desenvolve-se a tese echeverriana de que os valores são funções que representam ações na tecnociência. Ademais, os valores tecnocientíficos influenciam nas esferas sociais em que atuam. Entre os mais atuantes, destacam-se os subsistemas de valores políticos, militares e, sobretudo, os econômicos, que subordinam os demais para a realização de fins pragmáticos. Conclui-se, então, que a tecnociência é fundamentalmente uma revolução sociológica e filosófica no modo de se fazer ciência e tecnologia com impactos profundos na ciência em geral e na sociedade.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O BELO NA ESTÉTICA SARTRIANA E A BUSCA DO “EM-SI-PARA-SI”
Autor: Dálete O’hana Dos Santos Santana
Orientador: Prof. Dr. Vladimir de Oliva Mota
Ano: 2023
RESUMO: Uma vez que a realidade humana comporta o acaso, faz-se necessária a fatalidade; em um mundo onde impera o caos, há uma exigência pela ordem; quando se fala em angústia, tem-se o desejo pela beleza. Dito isto, ao se deparar com a existência de dois tipos de arte: significante e não significante, o que aqui se pretende é demonstrar que a necessidade da beleza faz com que os seres humanos criem um objeto comprometido com o belo, a obra de arte não significante, na tentativa de efetivar o projeto fundamental. Isto se dá, devido à ausência de beleza em uma realidade contingente, logo, angustiada. Tendo em vista que este trabalho se qualifica como uma pesquisa bibliográfica, houve uma preocupação, durante o percurso investigativo, com seleção das fontes primárias e secundárias, bem como com a interpretação tanto a partir de uma leitura atenta das obras de Sartre quanto da perspectiva de autores bem conceituados no que diz respeito ao estudo do pensamento sartriano. Para isso, num primeiro momento, foi feito um estudo de ontologia a fim de expor a estrutura fundamental do homem enquanto nada de ser. Aqui, a leitura das obras A transcendência do ego (1937) e O ser e o Nada (1943) foram essenciais. Em seguida, a partir das reflexões mais amadurecidas em O ser o nada, buscou-se demonstrar as implicações práticas de um ser que precisa existir para depois se fazer. Liberdade e angústia, logo, entram em cena como constituintes da realidade humana. Estudos sobre A Náusea (1938) entram, nesse momento, com mais intensidade. No terceiro momento, tendo em vista a condição do homem no mundo, fez-se necessário indicar a perspectiva de Sartre no que concerne ao sujeito na construção de si mesmo, o que implica a ideia de projeto. Isto conduziu a uma reflexão sobre a noção de beleza e de sua necessidade na vida humana. Para tal, foi imprescindível se dedicar ao texto Conferencia de Sartre a Universidade Mackenzie – 1960, cujo assunto diz respeito exclusivamente ao belo. Por fim, a partir de uma ideia de arte enquanto imagem apresentada em O imaginário (1940), logo, algo oposto à realidade e se apoiando nos argumentos da obra Que é a literatura? (1947), foi possível identificar um tipo de arte comprometida com a beleza na qual artista e espectador se projetam em um mundo ordenado e buscam realizar seu projeto de ser um Em-si-Para-si.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O MAL-ESTAR NA REPRESENTAÇÃO: DIDI-HUBERMAN E A CRÍTICA AOS FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA DA ARTE
Autor: Laís Kalena Salles Aragão
Orientador: Prof. Dr. Vladimir de Oliva Mota
Ano: 2023
RESUMO: A invenção da história da arte enquanto disciplina constituiu-se como um processo de adequação das imagens de arte às pretensões das narrativas. As imagens de arte eram compreendidas como representação da realidade e, portanto, a história da arte teria a pretensão de fazer corresponder totalmente as imagens de arte ao conhecimento que se tem delas. Quanto mais adequada a esse parâmetro, mais eficaz seria considerada a imagem de arte. Contudo, Georges Didi-Huberman indaga, em sua obra Diante da Imagem, se essa seria a única e melhor maneira de considerar a eficácia das imagens de arte e quais são as consequências de se estabelecer esse parâmetro à percepção das artes. Assim, no primeiro capítulo, trabalharemos a crítica de Georges Didi-Huberman à invenção da história da arte enquanto disciplina, focando na análise dos casos de Giorgio Vasari e Erwin Panofsky, e no uso das palavras-mágicas fundadas na ideia de representação, tal qual o percurso realizado por nosso filósofo em Diante da Imagem. Optamos por iniciar a argumentação apresentando o contexto de invenção da história da arte para oferecer aos leitores uma leitura cronológica e panorâmica da tese que apresentaremos nos capítulos seguintes. No segundo capítulo, investigaremos o que Didi- Huberman compreende por imagem de arte e interpretação, abordando o ideário de Sigmund Freud e sua investigação sobre as imagens do sonho. Analisaremos o caráter de sintoma e de rasgadura das imagens, propondo pensar outras formas de interpretação que acomodem as rupturas normativas, e a constituição de uma estética do sintoma como um campo entre a fenomenologia e a semiologia. Esse passo sucede a crítica às narrativas tradicionais e precede o confronto da crítica e da tese de Didi-Huberman. Assim, no terceiro capítulo, pretendemos questionar a autoridade da representação na elaboração das narrativas, considerando a noção que nosso filósofo desenvolve acerca das imagens de arte. Revisitaremos, nesse capítulo, a crítica de Didi-Huberman a Giorgio Vasari e Erwin Panofsky focando no confronto entre a ideia de imagem de arte apresentada no capítulo 2 e a crítica aos fundamentos da história da arte centrada na crítica à representação. Essa pesquisa consiste em um estudo bibliográfico que abrange a leitura rigorosa das obras do filósofo francês, acompanhando o desenvolvimento da sua hipótese e suas transformações, dentre as quais estão particularmente Diante da Imagem, Diante do Tempo e O que vemos, o que nos olha; e de comentadores que desenvolvem estudos semelhantes, como Chari Larsosn e Emmanuel Alloa.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O NEXO ENTRE EDUCAÇÃO E DIREITO EM KANT
Autor: José Maximino Dos Santos Filho
Orientador: Prof. Dr. Edmilson Menezes Santos
Ano: 2023
RESUMO: A presente tese se impôs como tarefa expor os elementos capazes de associar, na filosofia kantiana, educação, cultura e direito no sentido de projetá-los rumo a uma formação que vise à cidadania e, consequentemente, à moralidade. Para Kant, o fim último da educação é a moralização, entretanto, a consecução deste fim não se dá de maneira automática, faz-se necessária a interferência de elementos que operem o alcance dessa finalidade. Neste sentido, o trabalho pretendeu demonstrar que o direito e a disciplina podem ser arrolados entre esses elementos, pois, quando observamos cuidadosamente o projeto pedagógico kantiano, vislumbramos o seguinte: por meio da disciplina, tal como formulada nos seus escritos de pedagogia, prepara-se o educando para o respeito à liberdade do outro e, por conseguinte, para a efetiva prática do direito. Sem essa via pedagógico-disciplinar a instituição do direito estaria comprometida em sua organização inicial. Conduta e processo formativo devem aperfeiçoar-se de geração em geração até que tenhamos a plena realização moral. Nesses termos, a hipótese que serviu de guia à pesquisa foi assim traduzida: a disciplina liga-se ao direito por meio de um processo pedagógico que abarca não só o indivíduo e o seu momento, mas projeta-se para a humanidade inteira dentro de um desenvolvimento histórico. O conceito chave da investigação foi o de disciplina, porque tanto a educação como o direito dele dependem organicamente. As obras de onde as noções mais importantes, e que sustentaram a argumentação, ressaltam são: Sobre a Pedagogia, Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura e os Escritos sobre a História.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A INVEJA NA SOCIEDADE BEM-ORDENADA, JUSTA E DESIGUAL
Autor: Alexsandra Andrade Santana
Orientador: Prof. Dr. Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro
Ano: 2023
RESUMO: John Rawls, ao desenvolver sua teoria da justiça como equidade, dedicou esforços a demonstrar que a sua concepção política de justiça é intrinsecamente estável ao criar as condições para que a “inveja geral desculpável” não se prolifere na sociedade bem-ordenada, justa e desigual. Tal solução foi contestada por Jean-Pierre Dupuy, segundo o qual Rawls teria sido ingênuo ao acreditar que a solução do “problema da justiça” seria capaz de resolver também o “problema da inveja”. A partir das observações críticas de Dupuy a respeito do pensamento de Rawls, o presente trabalho visa investigar a pertinência de tais observações sobre a estabilidade da concepção política de justiça a partir da forma como a solução do “problema da justiça” é capaz, ou não, de lidar com o “problema da inveja”. Para alcançar tal objetivo, foi preciso: a) compreender o papel da inveja nas duas partes do argumento rawlsiano a favor dos princípios da justiça, especialmente na segunda parte, relacionada com o problema da estabilidade; b) compreender as objeções de Dupuy à tese de Rawls, no que se refere à solução do “problema da inveja”; c) analisar o impacto que a leitura de Rousseau teve para a solução rawlsiana do “problema da inveja”; e d) apresentar os elementos da teoria de Rawls que podem nos ajudar na busca de respostas às críticas recebidas, tendo sido eles observados ou não por Dupuy. A tese a ser defendida é a de que, apesar dos esforços de Rawls, os riscos advindos da inveja são apenas parcialmente evitados, uma vez que a inveja que pode desestabilizar a concepção política de justiça não se limita à “inveja geral desculpável”.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: SOBRE A INAUSÊNCIA DO OUTRO NA FILOSOFIA DE PLOTINO: O NEXO ENTRE METAFÍSICA E ÉTICA A PARTIR DE UMA COMPREENSÃO DA UNIMULTIPLICIDADE DOS SUPRASSENSÍVEIS
Autor: Tadeu Júnior De Lima Nascimento
Orientador: Prof. Dr. Cícero Cunha Bezerra
Ano: 2023
RESUMO: O propósito deste trabalho é demonstrar a inausência do outro na filosofia de Plotino (204/ 205 – 270 d.C.), examinando o nexo entre metafísica e ética a partir da teoria da unimultiplicidade dos suprassensíveis. Não há dúvidas de que a grande marca do pensamento plotiniano é como este se estrutura em função de uma tríade de hipóstases, a saber, Uno (e3n), Intelecto (nou~j) e Alma (yuxh&), cuja importância para os estudos que tratam da dimensão inteligível na antiguidade tardia (e mesmo na medievalidade) é notória. No entanto, apesar da preponderância da metafísica em seus escritos, interessa-nos a relação desta com as reflexões de cunho ético que ali também se encontram, especialmente no modo como o outro aparece no decorrer de seus tratados. Acreditamos que, ao olhar por esse ângulo, é possível compreender uma vinculação entre a unimultiplicidade dos entes inteligíveis e o modo de vida assumido pelo spoudai=oj (o sábio/virtuoso segundo a perspectiva plotiniana), sobretudo no que se refere ao relacionamento com as outras pessoas. Assim sendo, através da análise e interpretação de tratados das três fases da escrita de Plotino (reunidos na obra Enéadas) e de uma ampla bibliografia secundária, sustentaremos: 1) uma intrínseca concordância entre a teoria da unimultiplicidade dos suprassensíveis (Intelecto, Ser, Ideias, Alma/almas) e a ―percepção‖ que o spoudai=oj tem dos outros; 2) a inausência do outro nas reflexões plotinianas presentes nos tratados das três fases de sua produção literária, mesmo em alguns que não versam diretamente sobre questões éticas ou antropológicas. Ainda nesse sentido, considerando aquilo que foi preservado de sua biografia, exporemos de forma complementar o quanto a concepção ética de Plotino se traduz em ações que podem ser explicadas pelo vínculo entre uma filosofia e um modo de vida.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ENTRE O IDEAL E O POSSÍVEL: GUERRA E PAZ NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Autor: Cristiano De Almeida Correia
Orientador: Prof. Dr. Evaldo Becker
Ano: 2023
RESUMO: As reflexões sobre os temas relativos à guerra e a paz e toda a problemática envolvendo o Direito das Gentes encontram-se disseminadas pela obra de Jean-Jacques Rousseau após o próprio admitir, ao final do Contrato Social, que pretendia estender seu olhar para as relações entre Estados no âmbito do comércio, direito público internacional, militarismo, direito da guerra, etc. Não pôs à frente o projeto, mas suas reflexões, difusas em diversos textos publicados, não publicados, esboços e fragmentos servem de inestimável apoio para compreendermos de que maneira o autor pretendia levar adiante o empreendimento. Nesse sentido, esta tese se propõe a explorar o “inacabado” sistema de política estrangeira de Rousseau, com ênfase no nexo entre guerra e paz, natureza e civilização, artifício e originalidade. Nosso procedimento consiste em situar o autor dentro do debate sobre o Direito das Gentes na modernidade colocando em primeiro plano uma análise política e moral do homem e da sociedade. Paralelemente ao estudo das relações humanas, avaliaremos de que maneira o autor trabalha as tensões envolvendo a paz e a guerra na emergência dos Estados-nação. De um ponto de vista mais abrangente, valendo-se dos conceitos de “liberdade e igualdade”, e tomando por base as indicações espalhadas ao longo do universo textual de Rousseau e seus interlocutores, esta tese pretende também instigar uma reflexão sobre os pressupostos liberais e a economia de mercado que rege as Relações Internacionais na atualidade. Mais especificamente, sustentamos que esse par de conceitos, quando visto em perspectiva, é hábil tanto a nos auxiliar na reconstituição filosófica das teorias que fundamentaram o Direito das Gentes na modernidade quanto na crítica ao sistema internacional da contemporaneidade. Nossa hipótese busca determinar que o estudo dos textos de Rousseau relativos às Relações Internacionais são fundamentais para compreender sua teoria política, sobretudo ao examinarmos tais tensões. Ao final do percurso, tentaremos dar subsídio à nossa tese que aponta para a inexistência de elementos suficientemente claros para encaixar Rousseau em uma das duas correntes de pensamento predominante nas Relações Internacionais pós primeira guerra mundial: realismo e idealismo. A partir desta impossibilidade, consideraríamos sua posição como uma espécie de realismo hesitante, visto que faz uso da realidade factual das sociedades historicamente constituídas para compor sua teoria das Relações Internacionais sem abrir mão dos princípios universais estabelecidos no Contrato Social.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: HUMANISMO E CONHECIMENTO EM FRANCIS BACON
Autor: José Sandro Santos Hora
Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos
Ano: 2023
RESUMO: Francis Bacon é considerado um dos mentores da filosofia e da ciência modernas. Em função de propor uma restauração das ciências vinculada especialmente ao conhecimento da natureza e ao progresso do saber, Bacon atraiu críticas, pechas, opiniões nada amistosas a seu respeito. Ao nosso ver, resultado de ‘leituras’ e ‘interpretações’ à revelia da sua própria obra. É, portanto, no terreno das interpretações que o problema da nossa pesquisa se estabelece. Daí o título: ‘Humanismo e conhecimento em Francis Bacon’. Seria nosso filósofo arquiteto de um projeto de conhecimento que negligenciasse a perspectiva humana? As disciplinas que compõem o corpus dos studia humanitatis foram deslegitimadas por ele tão interessado no conhecimento da natureza? Seria o autor d’A sabedoria dos antigos avesso ao classicismo, à retórica, à poesia, à história e, em última instância, um anti-humanista? Nossa hipótese é que o projeto de ciência arquitetado por Bacon reverbera o humanismo renascentista e em alguma medida o protestantismo de Anne e Nicholas Bacon, seus pais. Para dar conta da hipótese adotaremos parcialmente o método ‘das fontes e da biografia’, tendo em vista a compreensão de uma época e/ou autor, conforme sinaliza Guéroult, mais sobretudo a leitura e análise de texto. Assim, o objetivo geral da tese é apontar um certo reflexo do humanismo renascentista na filosofia baconiana do conhecimento, haja vista mitigar um pouco certas noções dirigidas ao filósofo da restauração que não se confirmam quando verificamos de perto suas obras. Como estrutura em correspondência aos objetivos específicos, e tendo em vista o escopo de suportar o objetivo geral, a tese está estruturada em três capítulos. O primeiro, ‘Percurso e conceituação de humanismo’, mostra trajetória, nuances, dificuldades teóricas, tempo e espaço nos quais a definição propriamente se deu, dimensões que integram o conceito, entre elas utopia e dignitas hominis. O segundo, ‘Restauração, história e redirecionamento do humano em Bacon’, versa desde o ambiente histórico que contorna o pensamento de Bacon; toca as noções de ciência, conhecimento, natureza, experiência, plano d’A grande restauração e teoria dos ídolos; termina desembocando nos aspectos: história, divisão dos saberes e redirecionamento do humano consoante a filosofia de Bacon. O terceiro e último, ‘Reflexos do humanismo renascentista no autor da Nova Atlântida’, apresenta o Renascimento na Inglaterra bem como razões que levaram Bacon a recusar a lógica de Aristóteles e a escolástica; situa a inserção adequada de uma passagem d’O progresso do conhecimento utilizada indevidamente para acusá-lo de anti-humanista; e finaliza expondo ‘inspirações’ ou ‘modelos’, oriundos de variadas tradições, que serviram de espelhos e referências para a escrita da Nova Atlântida, reforça nossa tese do Bacon que ao se debruçar sobre muitos aspectos do seu pensamento, incluindo a ciência, reverbera também na tradição humanista renascentista. Integram ainda a tese: as considerações finais – com a síntese dos resultados alcançados – e as referências bibliográficas que nos forneceram o devido suporte teórico.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: TRIEB EM NIETZSCHE E FREUD: SUJEITO PULSÃO E VONTADE
Autor: Salomão Dos Santos Santana
Orientador: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva
Ano: 2023
RESUMO: Esta tese tenta reconstruir as origens do conceito Trieb na tradiÁ„o filosofia de lÌngua alem„, como o conceito evoluiu do alem„o antigo atÈ a sua entrada nas discussıes cientÌficas e filosÛficas. Comparamos, em seguida, o conceito de Puls„o, Trieb, na produÁ„o teÛrica de Nietzsche e Freud. Embora, em Nietzsche, n„o exista uma tentativa de sistematizar o conceito, como em Freud, esse conceito È o operador teÛrico fundamental no trabalho dos dois pensadores de lÌngua germ‚nica. Analisando o que foi escrito em diferentes fases de seus trabalhos, nossa tarefa È, primeiro, reconstruir as formulaÁıes e reformulaÁıes que o conceito assume no corpus teÛricos dos dois, logo em seguida, descrever a teoria das pulsıes em Nietzsche e compar·-las com a produÁ„o teÛrica de Freud, e como esse conceito engendra a noÁ„o de sujeito em ambos os pensadores. O objetivo È apresentar uma conjunÁ„o teÛrica em torno desse conceito e demonstrar os argumentos de Nietzsche, a fim de construir uma unidade teÛrica com a metapsicologia freudiana, e como os dois pensadores propıem construir a noÁ„o de Sujeito. Neste sentido, este trabalho visa refletir sobre as dificuldades de enfrentar um conceito que, por sua prÛpria natureza, n„o pode ser totalmente explicado por nossas suposiÁıes discursivas. Nosso desafio È rever os pontos comuns das abordagens nietzschiana e freudiana, como o inconsciente, e o ciclo da fisiologia das pulsıes.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: FOUCAULT E A HORIZONTALIDADE DA RELAÇÃO MESTRE-DISCÍPULO EM SÊNECA
Autor: Vilmar Prata Correia
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci
Ano: 2023
RESUMO: O presente trabalho visa pesquisar e problematizar os modos pelos quais podemos compreender a constituição de si, a partir do jogo saber-poder, na relação estoica mestre- discípulo, dada a ver nas cartas de Sêneca a Lucílio. Tomo, portanto, o sujeito da atualidade sob a perspectiva das propostas de reflexão do filósofo francês Michel Foucault, almejando uma visada analítica e, ao mesmo tempo, crítica no que se refere às questões relacionadas à liberdade, à verdade e à subjetividade. Para isso, estabeleço como ponto de partida os estudos foucaultianos a respeito da filosofia greco-romana, delineando um recorte no helenismo e em suas respectivas referências sobre o estoicismo, mais especificamente, no que diz respeito às cartas de Sêneca direcionadas ao seu discípulo Lucílio, destacando traços importantes concernentes aos modos de cuidado e governo de si e do outro, presentes na relação pedagógica mestre-discípulo. Mais ainda, investigo como se dão os deslocamentos teórico-metodológicos desta pesquisa a fim de se pensar o sujeito da atualidade e seus desafios, referentes a uma constituição de si, pautada mais pela sabedoria do que pelas práticas de poder per se.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A DÚVIDA COMO TERAPÊUTICA: DÚVIDA, ERRO E PATOLOGIAS NA FILOSOFIA CARTESIANA
Autor: Dante Andrade Santos
Orientador: Prof. Dr. Matheus Hidalgo
Ano: 2023
RESUMO: O objetivo deste trabalho é investigar o papel filosófico desempenhado por figuras patológicas como a loucura, a melancolia, a hidropsia e a icterícia nos textos nos quais Descartes se utiliza do expediente da dúvida, ou a comenta, e nos textos em que trata do problema do erro. A especificidade deste trabalho consiste em tecer uma articulação entre o âmbito da dúvida, a problemática do erro e o terreno da união substancial com o fio condutor representado por essas figuras patológicas, tratando-as como o fio de Ariadne que conduz a nossa investigação. Por um lado, para avançar na compreensão das questões que orbitam em torno do tema da dúvida, julgamos necessário analisar o suposto caráter cético da dúvida cartesiana: em que medida ela se aproxima e em que medida se afasta da dúvida cética? Em relação a essa problemática, tema do primeiro capítulo, sustentaremos duas hipóteses: (i) afirmar que não há identidade ou equivalência entre a dúvida cartesiana e a dúvida cética é uma leitura mais adequada a uma visão de conjunto da obra cartesiana e compatível com o ponto de vista do próprio Descartes; (ii) o tratamento dedicado à hipótese da loucura na primeira meditação é um importante indicador de não equivalência entre dúvida cartesiana e dúvida cética. Por outro lado, no que se refere à problemática do erro, tema do segundo capítulo, sustentaremos a hipótese de que a tese da imprudência da vontade, apresentada na quarta meditação, não explica as formas de erros produzidas pelas experiências patológicas. Elas configuram um tipo especial de erro, um erro de natureza, à maneira do que ocorre com os hidrópicos e ictéricos. Avaliamos que esse tipo especial de erro só encontra lugar na teoria cartesiana do erro com os argumentos apresentados na sexta meditação. Por último, no terceiro capítulo, discutiremos o problema da igualdade ou da desigualdade das inteligências. Embora no Discurso Descartes tenha anunciado a universalidade da razão, em várias ocasiões ele sugere diferenças de aptidões cognitivas entre os homens, com destaque para aquelas decorrentes de patologias como a loucura. Afinal, a inteligência é igual ou desigual entre os homens? Estamos diante de uma contradição flagrante nos textos cartesianos ou a universalidade da razão é compatível com as diferenças de aptidões cognitivas? Tentaremos demonstrar que a tese da universalidade da razão é absolutamente compatível com as diferenças cognitivas e que não há embaraço nenhum na coexistência delas. Enquanto a universalidade da razão é afirmada no campo da metafísica, as diferenças de aptidões cognitivas é resultados do caráter singular do produto da união do corpo com a alma em cada indivíduo. Ao término deste trabalho, esperamos ter reunido elementos que nos permitam sustentar a tese de que há uma espécie de função terapêutica na dúvida cartesiana. Uma terapêutica que não coincide com uma terapêutica cética e cujo sentido esperamos desvelar. Esperemos também expor a íntima articulação entre o âmbito da dúvida, a problemática do erro e o terreno da união substancial, demonstrando como, no limite, a articulação desses domínios reflete uma articulação mais fundamental entre os domínios da epistemologia e da psicologia. A primeira está inevitavelmente subordinado à problemática das condições subjetivas de produção do conhecimento. No âmbito da subjetividade, isto é, da psicologia, não se pode deixar de enfrentar os desafios colocados pelas patologias, os quais, nesse sentido, são desafios ao mesmo tempo para a psicologia e para a epistemologia. Assim sendo, longe de ser um tema menor, o estudo das patologias na obra cartesiana, na medida em mobiliza a solução de problemas fundamentais da metafísica e da antropologia, coloca-nos em uma posição melhor para compreender e avaliar o tipo de racionalismo que chamamos propriamente de cartesiano.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A FILOSOFIA DE DELEUZE LIDA À LUZ DA NOÇÃO DE METAMORFOSE
Autor: Edson Peixoto Andrade
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí
Ano: 2023
RESUMO: A presente tese pretende manter a hipótese de que é possível identificar um ponto de inflexão na produção filosófica de Deleuze, um corte epistemológico, o qual se dará a partir da década de 1970 com a ruptura que o filósofo Gilles Deleuze, em parceria com Félix Guattari, irá fazer com relação ao estruturalismo e aquilo que chamou “imperialismo do Significante” em favor de uma concepção que pensa uma pressuposição recíproca entre duas formas, a saber, a forma de conteúdo e de expressão, mas introduzindo nessa relação, a noção de corpos sem órgãos e de matéria não formada. Tal empreitada pensará as formas de expressão e conteúdo em termos de agenciamentos maquínicos e de enunciação que, por sua vez, são engendrados pelo socius, como corpo pleno, e pelo corpo sem órgãos. Isso provocará, por sua vez, profundas alterações na noção de individuação, de sujeito e de objeto na filosofia os quais, na visão de Deleuze, estavam fundamentados na noção de “representaçãoi ” e, também, na psicanálise que, para ele, estava atrelada a um conceito de inconsciente que se associava ao estruturalismo e ao edipianismo familista. Pensamos que a partir d’O anti-Édipo, a filosofia de Deleuze ou de Deleuze com Guattari, estarão vinculadas a uma noção de máquinas, de agenciamentos maquínicos, de linhas de fuga, desterritorialização e territorialidades e que tal visão filosófica pode ser agrupada na noção de metamorfose que, por sua vez, perpassa esse pensamento. Pensamos ainda que é possível defender tal tese, estabelecendo uma relação entre as funções dos conceitos defendidos na produção de Deleuze e Guattari e na produção de Deleuze sem tal parceria, sobretudo na obra A dobra: Leibniz e o barroco. Assim, a relação existente entre a função dos conceitos diferentes e a aplicação do conceito de “acontecimento” a lugares distintos da produção deleuzeana, nos leva a defender a tese que aqui afirmamos.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: WALTER BENJAMIN E FREUD: SOBRE MIMESE, LINGUAGEM E EXPERIÊNCIA
Autor: Daniel Francisco Dos Santos
Orientador: Prof. Dr. Everaldo Vanderlei de Oliveira
Ano: 2023
RESUMO: Encontramos, no conceito benjaminiano de faculdade mimética, um fio que nos direciona à perspectiva filogenética de cunho psicanalítico. Dizemos isso porque tal conceito se assemelha à concepção de sujeito que a psicanálise utiliza. Aquela visada sobre o homem sobressai à noção de fixação que se encontra vinculada à teoria freudiana da recordação. Cognitivamente, a faculdade mimética se comporta de maneira semelhante ao dinamismo do aparelho psíquico, mais especificamente, na dinâmica que implica o processo da recordação, isto é, o modo como os conteúdos mnêmicos são evocados, fixados e transmitidos filogeneticamente. A percepção de semelhanças das correspondências extrassensíveis do mundo externo se aproxima ao modo como a noção de fixação opera no que Freud denominou como processo do trauma. Com efeito, a percepção das correspondências é possível graças à influência da fixação no olhar captador do sujeito. Pensamos em desenvolver o conceito de faculdade mimética nos aproximando do dinamismo daqueles elementos do aparelho psíquico. A aproximação do conceito de faculdade mimética com a perspectiva psicanalítica da memória possibilita consideração da teoria benjaminiana da experiência, uma vez que a visada em conjunto entre ambas as teorias se dá no contexto da experiência. É a partir dessa possibilidade que a presente pesquisa propõe o seguinte problema: como a teoria psicanalítica da recordação pode auxiliar a disposição da faculdade mimética no cerne da teoria da experiência? Como hipótese de pesquisa, dizemos aqui que a teoria mimética de Walter Benjamin, que elege como seu conceito principal a faculdade mimética, apresenta uma ponte entre linguagem e experiência a partir da “fantasia” que guia o mimetismo. A teoria freudiana da recordação apresenta um dinamismo, que permitiu a conjectura de uma teoria da faculdade mimética como uma teoria da experiência, ao modo como indicava Walter Benjamin no fragmento Q°24 da obra das Passagens. No contexto de experiência, o indivíduo apresenta um funcionamento, o processo mimético, que demanda a captação das semelhanças no mundo externo. O dinamismo psíquico em ação no curso da recordação dos conteúdos mnêmicos implica tanto o âmbito ontogenético quanto o filogenético, uma vez que os conteúdos são evocados, fixados e transmitidos ao longo da história. Assim, num primeiro momento abordarei a teoria da faculdade mimética em cotejo com a teoria psicanalítica da recordação em discussão com algumas das principais concepções que trazem em seu bojo a possível materialidade da faculdade mimética. No segundo momento, veremos como a materialidade do processo mimético perpassa pelo universalismo da psicodinâmica que envolve a faculdade mimética. Veremos tal universalismo a partir da teoria psicanalítica da mimese, que se apresenta a partir do peculiar deslocamento da mimese em três momentos distintos, movimento que apresenta a relação entre a mimese e a fantasia na formação da psicogênese do sujeito. Por fim, investigarei o modo como Walter Benjamin, ao observar o aspecto instrutivo da mimese tal como fez Aristóteles, pretendeu quebrar a lógica mítica com caráter instrutivo do próprio mito, a partir da perspectiva mimética da psicanálise.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: EDUCAÇÃO E PRUDÊNCIA EM KANT: A PROPÓSITO DO USO DO JUÍZO MORAL VULGAR PARA A INICIAÇÃO MORAL
Autor: Tomaz Martins Da Silva Filho
Orientador: Prof. Dr. Edmilson Menezes Santos
Ano: 2023
RESUMO: Kant, ao buscar um fundamento seguro para a moralidade, parte da admissão do conhecimento moral vulgar que, por sua vez, produz um juízo moral vulgar. Esse tem em conta a apreciação da boa vontade como condição que o leva a formular uma noção do imperativo categórico. A partir disso, a tarefa da razão prática é submeter o juízo moral vulgar ao crivo da crítica para afastá-lo da influência de todos os fundamentos determinantes materiais práticos que lhe possam perverter. O juízo vulgar tem por obrigação distinguir os imperativos de prudência, dos imperativos de moralidade, visto que, no plano formativo, a prudência é algo indispensável, pois, por meio dela a educação pode encaminhar o discípulo (Lehrling) para a iniciação moral. Esse encaminhamento se dá mediante o uso de exemplos, enquanto a iniciação moral se dá pelo exercício da virtude; um aprendizado dos deveres por um método catequético (Katechetischen) socrático. Desse modo, o objetivo do trabalho é compreender o uso do juízo moral vulgar na iniciação moral, que possui um forte traço pedagógico. A tese está organizada em cinco capítulos que tomam como fio condutor a análise das obras Fundamentação da metafísica dos costumes e Sobre a Pedagogia. O primeiro capítulo expõe a relação de dependência do juízo moral vulgar com os fundamentos determinantes materiais práticos e o segundo capítulo evidencia a relação do ajuizamento moral com a própria razão pura prática. No terceiro capítulo, apresentamos os imperativos hipotéticos, como sendo o regramento da razão para fundamentos determinantes matérias práticos e os juízos que daí proveem. Nesse capítulo damos destaque especial à prudência e seus sentidos (Sinn), sendo ela um uso que fazemos dos demais para nosso bem-estar. Evidencia, portanto, o aspecto instrutivo da prudência, ou seja, o homem aprende por meio dela a fazer uma análise de seus erros e acertos pragmáticos. A partir dessa análise, o homem disciplina-se e torna-se civilizado, isso só é possível mediante uma ponderação das circunstâncias, um aprendizado que se dá com o passar dos anos; é uma instrução mediante a experiência. Posto isso, o quarto capítulo busca relacionar os conceitos de ideia, teoria e arte de educar, tendo em vista o desenvolvimento das disposições naturais. Nessa parte damos relevância às etapas iniciais da formação humana, o cuidado e a disciplina. O quinto e último capítulo leva em consideração a importância da prudência no processo educativo, tendo em vista sua utilidade para a iniciação moral. Para tanto, defendemos que, assim como o homem comum parte do juízo moral vulgar para formular o imperativo categórico, a iniciação moral também deve partir daí, do mais elementar sobre a moralidade. Nessa empreitada, o juízo moral vulgar inicia seu trajeto de esclarecimento fazendo uso dos exemplos, elemento muito útil para instrução pragmática, mas também para a iniciação moral. Embora, não se possa fazer uso com frequência deles, é um incentivo para a constância de propósito no exercício da virtude.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A PREMISSA CIENTÍFICA E A TRIPARTIÇÃO DA ALMA NO PHP DE GALENO
Autor: Marcus De Aquino Resende
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci
Ano: 2023
RESUMO: Esta pesquisa defende a tese de que a premissa científica de Galeno está um passo à frente do conhecimento científico produzido até sua época no que se refere à definição da sede de comando da alma racional. Galeno é um filósofo e cientista que usou a premissa científica para demonstrar aos estoicos crisipianos e seguidores do monismo da sede de governo da alma no coração que suas conclusões sobre o ἡγεμονικόν1 estão equivocadas por resultarem de uma aplicação indevida da lógica. Trataremos, em primeiro lugar, da classificação de Galeno de suas quatro premissas. Destacaremos, então, a premissa retórica para identificarmos a posição de Galeno quando afirma que esta premissa não produz conhecimento válido e foi a mais usada por Crisipo em sua defesa do ἡγεμονικόν. Em seguida, entraremos na apresentação de Galeno no PHP sobre a premissa científica e sua conceituação sobre φαινόμενον, αἴσθησις, ὑπάρχοντα e οὐσία. Finalmente, apresentaremos alguns aspectos relevantes da defesa de Galeno sobre a tripartição platônica da alma. Nessa última fase, evidenciaremos a resposta de Galeno a Crisipo e sua crítica ao monismo estoico, apresentaremos a defesa de Platão da tripartição em sua República, que Galeno entende ser uma prova lógica importante, falaremos sobre a tripartição na filosofia do estoico Possidônio e terminaremos discorrendo sobre aquilo que chamamos de uma questão sem reposta sobre a imortalidade da alma.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: LIBERDADE POLÍTICA: UMA ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE LIBERDADE REPUBLICANA NA OBRA POLÍTICA DE MAQUIAVEL
Autor: Emanuel Cicero Cavalcanti Vieira Da Silva
Orientadora: Profa. Dra. Flávia Roberta Benevenuto de Souza
Ano: 2023
RESUMO: Este trabalho analisa a concepção de liberdade política nas obras O Príncipe e Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio de Maquiavel e discute sobre a recuperação da concepção republicana de liberdade política realizada por Skinner e Pettit que encontraram em Maquiavel uma alternativa aos conceitos de liberdade negativa e positiva elaborados por Isaiah Berlin. Entretanto, alguns autores questionam a abordagem realizada por Skinner ao interpretar que Maquiavel apresenta em sua obra uma concepção puramente negativa de liberdade. Diante disso, esse trabalho realiza uma recuperação da concepção de liberdade republicana em Maquiavel, demonstrando que sua concepção de liberdade vai além da concepção negativa de liberdade e busca apresentar uma concepção de liberdade republicana em Maquiavel mais próxima da que foi pensada pelo autor florentino e, assim, analisar as possibilidades de contribuição para o debate contemporâneo sobre o tema.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2022 ---------------------------------------------------------
TITULO: NIETZSCHE: ANTICRISTO OU ANTICRISTÃO?
Autor: Alziro Alves Dos Santos Neto
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí
Ano: 2022
RESUMO: A presente pesquisa visa investigar a diferença de tratamento dispensada por Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900) ao cristianismo e à figura histórica de Jesus. Para tal, serão feitas leituras e análises da sua principal obra de ataque ao cristianismo – O anticristo (1888), onde o filósofo aprofunda as supostas contradições entre a religião cristã e o evangelho tal como teria sido professado e praticado por Jesus. Inicialmente, exploraremos a crítica mordaz que o pensador alemão direciona àquele que considera o fundador do cristianismo, Paulo de Tarso; em seguida, veremos como este teria transformado, segundo Nietzsche, a boa nova de Jesus em um disangelho; por fim, analisaremos a doença do ressentimento que se encontraria no bojo da crítica nietzschiana à religião cristã.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A JUSTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA PELO PRISMA ESTÉTICO NO NASCIMENTO DA TRAGÉDIA DE NIETZSCHE
Autor: David Angelo Oliveira Rocha
Orientador: Prof. Dr. Vladimir de Oliva Mota.
Ano: 2022
RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo investigar o que levou Nietzsche a declarar que a vida só pode ser justificada pelo olhar estético. Em sua primeira obra, O Nascimento da tragédia, Nietzsche afirma que “só como fenômeno estético podem a existência e o mundo justificar-se eternamente”. A problemática desta pesquisa questiona o advérbio “só” que aparece nesta declaração. Por que somente como fenômeno estético é possível encontrar razões para que a vida seja justificada? Levando em consideração tal problemática, esta pesquisa está dividida em três partes. Na primeira parte, investigamos a visão de Nietzsche sobre a relação entre pessimismo e existência. Neste processo inicial da escavação do solo existencial, deparamo-nos com personagens aos quais o filósofo recorreu para elaborar seu pensamento estético- filosófico sobre a existência: os gregos e Schopenhauer. A compreensão sobre pessimismo entre os gregos e Schopenhauer dá luzes para entender a visão existencial de Nietzsche e a relação entre os impulsos apolíneo e dionisíaco para concepção de “metafísica de artista”. No segundo momento, analisamos os motivos que levaram Nietzsche a constatar que a ciência e a moral cristã são insuficientes para justificar a existência. Na busca por valores que ajudem o homem a afirmar a vida, o filósofo de Basiléia aponta que a negação da vida começou desde a Grécia clássica, antes mesmo de Sócrates, mas tendo como lente de aumento o próprio filósofo Sócrates. O socratismo aparece no decorrer dos séculos pela face da ciência e da moral cristã. Este racionalismo que alimenta um otimismo, acreditando que é possível corrigir a existência, faz aumentar uma sociedade escrava de conceitos e da lógica. O homem racional interpreta o homem estético como alguém inferior por apostar na arte como aquela que pode salvar o homem moderno. No terceiro momento, tentamos entender a importância que Nietzsche dá à arte e à relação dela para com a vida. Já obtendo as informações que o levaram a constatar que a ciência e moral cristã eram insuficientes para afirmar a vida, agora questionamos porque somente pelo viés estético é possível justificar a existência. Para tal empreitada, partimos do conceito e finalidade da tragédia para Aristóteles, Schiller e Schopenhauer, o que serve para que percebamos os momentos de proximidade e de distanciamento de Nietzsche em relação à cada filósofo ao tratar sobre o conceito e finalidade da tragédia. Depois abordamos os elementos que compõem a tragédia, como: mito, coro e música. Houve, ainda, a contribuição sobre o valor do efeito trágico que brota das músicas wagnerianas. Por fim, discorremos sobre as críticas de Wagner sobre a arte industrializada e como este tipo de arte não contribui para a justificação da existência pelo viés estético. Tais críticas, que aparecem no Nascimento da Tragédia, nos levaram a entender o processo de transfiguração da vida pela arte trágica e a transformação do homem teórico em homem estético pela sabedoria dionisíaca. A metodologia adotada para estudar o pensamento filosófico de Nietzsche foi o método do estruturalismo, à luz das orientações de Scarlett Marton. Este método nos permitiu ir além da obra Nascimento da Tragédia e recorrer a outras fontes, como: contexto histórico, vocabulário do filósofo, leituras que o filósofo fez e problemas que o filósofo buscou tratar. Assim, esta pesquisa está embasada na primeira fase intelectual de Nietzsche, que comporta de 1870-1876, e, respeitando este intervalo, serão utilizados outros textos produzidos por ele para obter luzes e entender a mensagem estético-filosófica do pensador.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: FILOSOFIA DO DIREITO EM FRIEDRICH NIETZSCHE: A DESCONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA E PUNIBILIDADE NO DIREITO MODERNO
Autor: MARÍLIA FERNANDA SANTOS LIMA
Orientador: Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva
Ano: 2022
RESUMO: A dissertação em tela tem por objetivo demonstrar a existência de uma filosofia do direito no pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, conhecido pela ampla discussão a respeito da moral cristã. Embora as teorias de Nietzsche sejam alvo de muitos estudos já desenvolvidos, ainda existe uma lacuna no que se refere a estudos voltados para aspectos do direito nas obras do filósofo, o que justifica o desenvolvimento de tal pesquisa. Em especial nas obras Humano, demasiado humano, publicada em 1878, e Genealogia da Moral publicada em 1887, onde o autor traz abordagens relevantes para o processo de “desconstrução” do direito moderno, amparado na concepção de justiça e punibilidade, regido pelas relações de poder e inclinações morais subvertidas, e por essa razão é preciso um movimento de reconhecimento das contribuições de Nietzsche nesta seara. Para o filósofo, reconhecido estudioso da moral, os sistemas vigentes estão correlacionados, sejam eles: O Estado, a religião e o Direito Moderno; todos em função da manutenção do poder, e profundamente imersos numa moral subvertida pelo cristianismo. Podemos citar como exemplo desse processo, diretamente relacionado ao Direito, a concepção de “justiça”. Nessa concepção de Nietzsche, coexistem dois conceitos de justiça; a justiça dos ricos (dominadores, senhores), e a justiça dos pobres (escravos, dominados). A concepção de justiça é para cada um, a inversão do que é para o outro, sendo que, de qualquer modo, para o filósofo, a concepção da justiça advém do desenvolvimento do instinto de vingança; e são, posteriormente, as perspectivas morais da modernidade que mascaram a justiça como algo apartado e inverso à vingança. Para chegar ao objetivo a que o estudo se propõe, serão utilizadas as supramencionadas obras como eixos da pesquisa, e demais obras do autor de maneira subsidiária, conforme se mostrem necessárias para o desenvolvimento desta investigação. Por fim, está pesquisa foi realizada por meio do método de leitura rigorosa do texto, própria do estruturalismo, aliado ao método genealógico de contextualização histórica e temporal no qual as obras foram pensadas e redigidas. De maneira que seja possível demostrar a gênese e o desenvolvimento da concepção de Nietzsche sobre a desconstrução do entendimento de justiça e punibilidade no direito moderno.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: OS IMPACTOS DO CETICISMO MORAL DE MANDEVILLE NA FILOSOFIA MORAL DE HUME
Autor: Juliane Da Mota Santos
Orientador: Prof. Dr. Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro.
Ano: 2022
RESUMO: Ao posicionar-se no debate acerca dos fundamentos da moral a que se dedicaram vários pensadores britânicos do século XVIII, David Hume desenvolve uma concepção da moralidade segundo a qual está diria respeito a ações e sentimentos desinteressados, que, frequentemente, relacionam-se diretamente com o interesse público. Nesse sentido, Hume mostra-se um crítico ferrenho de Bernard Mandeville, que teria defendido que a moralidade teria por base uma natureza humana governada apenas pelo amor próprio e pela vaidade. Ainda assim, não se pode perder de vista que os dois autores parecem se aproximar no que diz respeito à origem da justiça e, por extensão, da sociedade tal como a conhecem. Isso porque ambos consideram que as regras sociais teriam surgido a partir da necessidade de satisfação de interesses. Assim, a pesquisa proposta aqui pretende se constituir como uma investigação acerca do modo como as teses de Bernard Mandeville impactaram a filosofia moral de David Hume, e em que medida estes se afastam e se aproximam.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O CONCEITO DE INFÂNCIA EM ERASMO DE ROTERDÃ E MONTAIGNE
Autor: Plinio Rogério Da Silva
Orientador: Prof. Dr. Christian Lindberg Lopes do Nascimento
Ano: 2022
RESUMO: O objetivo desta dissertação foi analisar o conceito de infância em Erasmo de Roterdã e Montaigne. Descrever o impacto do Humanismo-Renascentista no pensamento educacional destes filósofos e, assim, perceber o contexto e a ideia de infância na obra De Puerisem Erasmo de Roterdã e nos Ensaios de Montaigne, em especial os capítulos XXV do livro I Do pedantismo, o XXVI do livro I Da Educação das crianças, o capítulo VIII do livro II Da afeição dos pais pelos filhos e o capítulo XIII do livro III Da experiência. Dito isto, problematizar a ideia de infância presente no Renascimento a partir destes pensadores. Haveria um conceito de infância no Renascimento a partir do pensamento de Erasmo e Montaigne? Outras questões norteadoras ajudam a esclarecer a indagação, ou seja, qual a influência do Humanismo-Renascentista para a formulação da ideia de infância? Qual o papel da família e do preceptor na construção do conceito de infância? Qual a contribuição da educação para montar a imagem de infância neste período? Utilizou-se o método hermenêutico para dar respostas aos questionamentos sistêmicos sobre o tema, pois a analise das obras foram feitas a partir do contexto na qual foram escritas e que viveram os filósofos. Vale ressaltar a relevância deste estudo, pois em pesquisas realizadas no site Catálogos de teses e dissertações da CAPES em 2019, observou-se que não havia estudos que relacionassem o conceito de infância a partir de Erasmo de Roterdã e Montaigne. O foco de muitos trabalhos acadêmicos sobre a infância parte de Rousseau para conceituar essa etapa da vida na modernidade. Por fim, a ideia de infância que surgiu na relação entre Erasmo e Montaigne, não traz a pretensão de sobrepor os pensamentos de um filósofo sobre o outro, nem tampouco somar suas teorias, mas percebeu as influências culturais, de linguagem e tradições, por exemplo, para revelar uma nova concepção ideológica que contribuiu com as discussões para compreender a infância neste marco teórico e, consequentemente, na atualidade.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A EDUCAÇÃO NATURAL COMO EXPRESSÃO DA MORALIDADE EM ROUSSEAU
Autor: Ronney Costa De Morais
Orientador: Prof. Dr. Christian Lindberg Lopes do Nascimento
Ano: 2022
RESUMO: A presente dissertação tem como objetivo geral analisar a relação entre moralidade e educação natural em Rousseau e como objetivos específicos: (i) Examinar a noção de educação natural em Rousseau, tendo em vista a análise dos Livros de Emílio, principalmenteo I e o II; (ii) Perscrutar o conceito de moral em Rousseau obtido no Discurso Sobre as Ciências e as Artes e no Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens; (iii) Relacionar o conceito de educação natural e moral em Rousseau. À medida em que o selvagem se utiliza da perfectibilidade e da liberdade, encontra a possibilidade de opor-se aos seus instintos, transformando-se em agente livre, capaz de discernimento. Com isso, pouco a pouco, por meio de suas escolhas, ele vai se desfazendo da maneira em quevivia no estado de natureza, instigado a modificar sua vida simples e solitária estabelecida pela amoralidade. Nota- se que, quanto mais distante do seu estado originário, mais capaz se torna em relação à multiplicação das paixões e dos vícios, que se acentuam significativamente por meio do convívio social. Essas mudanças, ao serem analisadas, trazem consigo o problema central da pesquisa, que surge a partir da seguinte problematização: “Qual é a solução profilática proposta por Rousseau para restaurar a natureza humana, desde que a perspectiva civilizatória seja preservada?” Desse modo, deve-se considerar a vida em sociedade ao degenerar a harmonia que o homem tinha em relação ao seu estado de paz e felicidade. Estando corrompido, faz uso das ciências e das artes para se promover indiscriminadamente, ampliando a tirania e o luxo, fazendo-se ocioso e egoísta. Portanto, dada a derrocada humana, verifica-se que a formação do indivíduo é uma alternativa para aproximar o homem da sua regeneração. Tendo na educação natural, que se inicia com o nascimento, um grande contribuinte, pois não distancia o indivíduo do amor de si e da piedade. Pode-se, então, perceber que essa educação natural é promovida para a valorização da infância e da sua autonomia, perpassando por suas especificidades, deixando a criança o mais próximo possível da natureza, sem pretender sacrificar seu presente por seu futuro. Por isso, Rousseau valoriza a educação doméstica e critica veementemente quaisquer tipos de domínio, como é o caso dos enfaixamentos, com a intenção de preservar a infância das condutas que possam desnaturalizá-la de maneira errônea. Assim, para alcançar os objetivos da pesquisa a metodologia utilizada será a análise estrutural das obras supracitadas e comentadores relevantes, na qual se pretende compreender os conceitos elaborados nelas priorizando suas estruturas internas, ou seja, sendo fiel ao pensamento do autor.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ANÁLISE DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS PRESENTES NO PALAMEDES DE GÓRGIAS
Autor: Thatiane Santos Meneses
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci.
Ano: 2022
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo fazer uma análise sobre o método do discurso empregado por Górgias em sua obra intitulada de A Defesa de Palamedes por meio de uma apreciação filosófica analítica do texto, tomando por base o modelo jurídico adotado na Grécia nos idos do século V a.C. A pesquisa tem como objetivos específicos investigar o método gorgiano de defesa na Defesa de Palamedes, identificar, na mesma obra, os elementos retóricos de persuasão empregados por Górgias, compreender os princípios jurídicos utilizados por Górgias na obra em comento e estimar qual seria a real intenção de Górgias com a apresentação da Defesa de Palamedes. Trataremos detidamente de dois pontos básicos apontados no discurso de Palamedes, que seria a ausência de provas e a verossimilhança das alegações. Será feita ainda uma abordagem de tais pontos à luz do manual de retórica proposto por Aristóteles. O tema é relevante para a compreensão do desenvolvimento das reflexões filosóficas acerca dos processos jurídicos e os meios para efetuar a persuasão. O entendimento desses questionamentos dos pensadores antigos lançará luz sobre as discussões atuais quanto a esses temas, nos possibilitando compreender aspectos importantes deste desenvolvimento bem como a transmissão dessas reflexões ao longo do tempo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2021 ---------------------------------------------------------
TITULO: O CONCEITO DE AUFHEBUNG EM HEGEL : UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A DOUTRINA DO SER NA CIÊNCIA DA LÓGICA E NA ENCICLOPÉDIA
Autor: Alburquerque, Rosmane Gabriele Varjão Alves.
Orientador: Chagas, Arthur Eduardo Gripilho.
Ano: 2021
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo realizar uma investigação do conceito de Aufhebung [suprassunção] em Hegel (1770-1831). O conceito aparece de modo especialmente relevante na parte final do momento da “qualidade” da Doutrina do Ser, nos livros que Hegel dedicou à Lógica. Hegel escreveu dois livros sobre Lógica: a Ciência da Lógica de 1812-1816, e o primeiro volume da Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio de 1817. Na Ciência da lógica, especificamente na Doutrina do Ser, Hegel separa uma parte intitulada “Observação” para tratar brevemente do termo Aufhebung e seu conceito. É nesse contexto que Hegel mais reflete sobre a expressão. Aparentemente, isso se dá como fruto de uma necessidade explicativa concernente ao termo, demonstrando suas possíveis dificuldades. Assim, ao demonstrar os problemas relacionados ao conceito de Aufhebung trabalhados pelo próprio Hegel, vê-se a necessidade de uma investigação que busque esclarecer quais suas dificuldades e como estas podem ser superadas. Na Doutrina do Ser, ser, nada e devir são apresentados como categorias sistemáticas da lógica especulativa. Já o conceito de Aufhebung aparece como condição necessária para o desdobramento da Lógica. É o que faz cada categoria avançar para outra. Diante disso, no devir, a suprassunção encontra-se como movimento que suspende ou eleva todas as outras categorias, proporcionando a passagem de um estado a outro. Dessa forma, apresentamos como hipótese que o conceito de Aufhebung possa ser esclarecido à luz dos problemas relacionados ao conceito de devir, presente na Ciência da lógica – Doutrina do Ser – e na Enciclopédia. No desenvolvimento da pesquisa, analisamos a questão do método filosófico em Hegel, a fim de apresentar o que ele compreende por Lógica e suas principais características, importantes na diferença em relação à lógica formal. Abordamos também a forma absoluta, que aparece em todo seu sistema. Em seguida, aprofundamos a questão da dialética ser-nada-devir e sua relação com o conceito de Aufhebung. Por fim, trabalhamos as modalidades de contingência e necessidade na Lógica dialética e o problema do começo em Hegel.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DA ANGÚSTIA À POSSIBILIDADE DE SINGULARIZAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE O EXISTIR PRÓPRIO COMO CUIDADO
Autor: Carvalho, Rafaela Santos de
Orientador: Hidalgo, Matheus
Ano: 2021
RESUMO: A angústia é apresentada por Martin Heidegger (1889-1976) como um modo de encontrar-se que é fundamental para a abertura do Dasein, ela nos suspende e manifesta o nada, uma indeterminação. No entanto, ao contrário da negativação e rejeição do nada pela ciência, Heidegger nos revela que o Dasein denota em seu modo de ser originário um estar suspenso dentro do nada; desta forma, encontra-se além do que é o ente e em uma atitude de transcendência. O nada se revela como uma suspensão de quaisquer valores, conceitos ou definições que limitem o Dasein a um ente simplesmente dado, não é uma negação ou vazio, mas sim uma abertura onde o Dasein entra em contato com a totalidade das suas possibilidades de existir e, com isso, pode assumir suas escolhas e tornar-se da maneira mais própria ser-nomundo. A cotidianidade traz ao homem uma falsa sensação de pertencimento, existe uma falta que é preenchida por “falatório, ambiguidade e curiosidade”, porém estes se mostram como momentos fáticos, onde não há a compreensão do Dasein, apenas a impropriedade na qual o homem foi jogado e ali permanece. A angústia abre para o Dasein, também, o seu caráter de estar em jogo, de um projeto onde as possibilidades da propriedade e impropriedade se apresentam, não há definições, mas sim possibilidades de existir onde o próprio Dasein é responsável por si mesmo. A angústia abre o modo de ser do Dasein no mundo como cuidado (Sorge), diante do qual o mesmo pode responder ao mundo como ocupação (Besorgen) ou preocupação (Fürsorge). Nestas considerações, coloca-se a questão principal norteadora do presente trabalho: quais reflexões podem ser apresentadas acerca do lugar ocupado pela angústia na analítica existencial que possibilitem aprofundar sobre um existir próprio e singularizado que atua no modo de ser do cuidado? Através da disposição da angústia, o homem permite-se livre e, neste modo de ser, mostra uma liberdade consigo mesmo, em entender a si mesmo enquanto pertencente ao mundo – ser-no-mundo – com o qual se relaciona e o afeta. Como também, permite-se relacionar com os demais entes na compreensão e no cuidado, demonstrando uma relação de abertura com o ser do outro e permitindo suas possibilidades no mundo, enquanto, ao mesmo tempo, é constituído nessa relação. Percebe-se, então, que a angústia enquanto disposição, ou condição existencial fundamental apresenta-se na filosofia heideggeriana como um conceito que perpassa suas obras e possibilita uma analítica do ser em seu modo mais próprio. O entendimento deste conceito mostra-se como fundamental para se percorrer os caminhos apresentados por Heidegger para a compreensão do Ser, para sua analítica existencial e, mais além, para a apreensão do ser do homem enquanto Dasein.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: UMA CARTOGRAFIA DA IMAGEM CLÁSSICA DO PENSAMENTO : A CRÍTICA DELEUZE-GUATTARIANA AO LOGICISMO
Autor: Morais, Lauro Iane de
Orientador: Menna, Sérgio Hugo
Ano: 2021:
RESUMO: O presente trabalho se divide em dois momentos: no primeiro faremos a exegese de O que é a filosofia? de Gilles Deleuze e Félix Guattari, explicitando os conceitos de conceito, plano de imanência e personagem conceitual. Neste momento, retomaremos a crítica deleuze-guattariana à imagem clássica do pensamento e sua influência na lógica contemporânea, a partir da sua convergência com o discurso científico. No segundo momento, faremos a exegese dos textos que participaram da construção da lógica contemporânea, explicitando neles como a imagem clássica do pensamento se desenvolve e quais momentos de rupturas ela comporta. Para tanto, utilizaremos do método funcionalista traçado pelos próprios Deleuze e Guattari.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A ONTOLOGIA FUNDAMENTAL À LUZ DO PROJETO HEIDEGGERIANO DE UMA DESTRUIÇÃO DA HISTÓRIA DA ONTOLOGIA: O EXEMPLO DE DESCARTES
Autor: Breno Valentino Lima Santos
Orientador: Prof. Dr. Arthur Eduardo Grupillo Chagas
Ano: 2021
RESUMO: O presente trabalho tem como tema a ontologia-fundamental proposta na obra Ser e Tempo; mais detidamente, em um dos momentos do projeto de reavaliação da possibilidade de trazer à luz a questão da ontologia. Abordamos, então, o projeto de destruição da história da ontologia clássica proposta por Martin Heidegger. Pretendemos compreender o projeto de ontologia-fundamental, proposta na mesma obra, e seus passos a caminho de uma fundamentação da ontologia, partindo das críticas a Descartes nos §§ 19, 20 e 21 da obra. Com isso pretendemos resolver algumas questões, (1) qual papel que a “destruição” cumpre na construção do projeto heideggeriano? (2) quais as consequências das críticas a Descartes presentes no §20 de Ser e Tempo? e, (3) a crítica ao cogito cartesiano é o ponto para a reafirmação do Dasein enquanto ente privilegiado no tratamento da questão-do-ser? Essas questões nos ajudam a desenvolver um comentário sobre o projeto de destruição da ontologia cartesiana, e sua função positiva na construção da ontologia-fundamental. Para tanto, o trabalho foi dividido em duas partes. A primeira diz respeito a uma introdução aos conceitos elementares da filosofia heideggeriana. Abordamos o que Heidegger quer dizer com ser, ente, verdade e Dasein. No segundo capítulo confrontamos a interpretação heideggeriana da filosofia cartesiana, a saber, substância, entendida como res extensa, verdade, entendida como indubitabilidade ou certeza, e sujeito, entendido como res cogitans. Assim, pretendemos tornar claro como as próprias noções da filosofia de Heidegger dependem de uma compreensão dos conceitos da ontologia cartesiana.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A RELIGIÃO COMO ALIENAÇÃO E IDEOLOGIA NO JOVEM MARX: UM ESTUDO SOBRE OS MANUSCRITOS ECONÔMICO-FILOSÓFICOS DE 1844 E A IDEOLOGIA ALEMÃ DE 1846
Autor: Carlos Alberto Nunes Júnior
Orientador: Prof. Dr. Romero Junior Venâncio Silva.
Ano: 2021
RESUMO: A temática em torno da qual se situa esta pesquisa é a investigação sobre a crítica à religião que Karl Marx redige nas obras Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844) e A Ideologia Alemã (1845-1846), esta última em parceria com Friedrich Engels. Entendemos aqui que não há uma sistematização da sua crítica, mas isso não inviabilizou um deliberado exame acerca do que é a religião e qual a sua função na sociedade. Para alcançar o objetivo é necessário, primeiramente, analisar a crítica à religião desenvolvida por Ludwig Feuerbach em A Essência do Cristianismo (1841). A análise feuerbachiana sobre a religião expõe a alienação religiosa do humano que não consegue se identificar com a sua própria essência e a projeta em uma ilusão que será denominada como Deus, de modo que seria preciso superar a religião, por meio do ateísmo, para encerrar a alienação, pois o humano voltaria a se encontrar com a sua essência genérica sem recorrer a um intermediário fictício. O exame feuerbachiano gera um forte impacto em Marx e Engels e não há como compreender a avaliação que estes fizeram sobre a religião sem dirigir-se em algum momento à Feuerbach, inclusive pela confissão de Engels que anos depois declara que ambos, ele e Marx, foram momentaneamente feuerbachianos. Em um segundo momento é preciso compreender o conceito de alienação em Marx, identificando quais seriam as aproximações e afastamentos entre o uso marxiano e o feuerbachiano para o conceito de alienação, pois em Marx a alienação religiosa é um sintoma da alienação do trabalho. Deste modo, não haveria como superar o estranhamento causado pela religião sem superar a forma anterior de alienação, ou seja, em Marx a alienação religiosa não poderia ser superar mediante uma mudança individual de conduta, ao mesmo tempo que Marx é influenciado pelo humanismo feuerbachiano, a ideia que o humano se perdeu de si mesmo e precisa se reencontrar com sua essência. Por fim, entender como Marx e Engels analisam o conceito de ideologia e a sua respectiva relação com a religião, pois a ideologia seria uma representação ideal das explorações materiais, uma forma da classe dominante conseguir perpetuar a sua dominação. Assim, é preciso compreender qual a origem da ideologia e quais as suas incidências na consciência. Após esses três momentos teremos concluído o rastreamento e análise da crítica à religião no jovem Marx.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: NIETZSCHE: ARTE E VIDA EM O NASCIMENTO DA TRAGÉDIA
Autor: Cléberton Luiz Gomes Barboza
Orientador: Prof. Dr. Vladimir de Oliva Mota.
Ano: 2021
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo investigar a afirmação da vida pela arte na primeira obra de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia (1872). Tomamos por pressuposto que a afirmação da vida já se encontra na referida obra, assim, buscamos responder o seguinte problema: por que a arte afirma a vida? Para atender esta finalidade, a estrutura do trabalho será composta em três partes. Na primeira parte, procedemos com o exame do fenômeno vida enquanto fenômeno estético, oriundo do devir, isto é, o apolíneo e o dionisíaco como impulsos artísticos da natureza; num segundo momento, analisamos a arte trágica dos gregos como afirmação da vida ante o terror do devir; por fim pomo-nos a perscrutar o fim da arte trágica através do socratismo, como um declínio da vida. Para o desenvolvimento da pesquisa, adotamos o método estrutural, tendo em vista também que Nietzsche não é um autor sistemático, observando assim nuances e aberturas para linhas interpretativas em seus escritos. Sustentamos que vida, como fenômeno estético, é expressa por Nietzsche como impulsos artísticos da natureza, nos quais Apolo e Dionísio emergem como forças que constituem o movimento interno do devir, numa simultaneidade entre o criar e o destruir; a plasmação apolínea e o aniquilamento dionisíaco, constituindo o instante de gênese e eterna fertilidade e prazer do vir-a-ser, que constitui o fenômeno vida. O devir, no entanto, aparece ao homem como terrível e desesperador, dada a instabilidade e o sem sentido da existência, marcada pela violência e crueldade da natureza, produzindo-se e diluindo-se a cada instante. É apenas com a arte que o homem se salva dos horrores da existência, imitando os poderes artísticos da própria natureza, expressos em Apolo e Dionísio: a bela aparência apolínea do sonho transfigurada nas artes plásticas, e a embriaguez dionisíaca num misto de terror e êxtase expressos na música. O coro trágico dos gregos produzia a afirmação da vida em todas as suas vicissitudes, mesmo as mais cruéis. Uma tal afirmação da vida, no entanto, é posta em declínio pelo socratismo, cuja marca se dá pela substituição do estético pelo lógico, suprimindo o dionisíaco, e, em consequência, o apolíneo, também mortificado, uma vez que não a arte, mas a ciência passa a ser o horizonte do pensamento ocidental, petrificando-se neste modo de ser da razão. Sob um tal diagnóstico do Ocidente, Nietzsche reivindica uma existência artística, que, contra a negação do querer, pode enfim e tragicamente, dizer sim.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ACERCA DA ESSÊNCIA DA MORAL: MAX SCHELER CRÍTICO DE KANT
Autor: Cleibson Américo Da Silva
Orientador: Prof. Dr. Edmilson Menezes Santos
Ano: 2021
RESUMO: A discussão proposta nesta dissertação voltou-se para a crítica de Max Scheler ao pensamento de Immanuel Kant, dois autores empenhados em buscar o elemento que possa ser posto como a essência da vida moral. O segundo, em suas obras Fundamentação da metafísica dos costumes e Crítica da razão prática, procurou sedimentar uma doutrina moral em consonância com o seu sistema filosófico, de modo a integrá-la como sendo necessária à razão pura, que é também prática ao determinar a vontade. O primeiro, por sua vez, partindo de sua obra magna O formalismo na ética e a ética material dos valores, buscou simultaneamente fundamentar uma doutrina ética que fosse capaz de refutar o que chamou de “formalismo kantiano” e justificar sua teoria material dos valores. O objetivo geral do estudo foi recompor o exame scheleriano da filosofia moral de Kant, de modo a traçar os pressupostos dessa análise crítica a partir de um conjunto de conceitos estruturantes presente nas duas posições em tela (a priori, empírico, boa vontade, intuição, imperativo categórico, bem/mal, cumprimento do dever como condição essencial da lei moral, ética material, valores, hierarquia dos valores etc.). Para tanto, procurou-se fazer uma leitura das obras dos autores, ressaltando sua estrutura interna e dela retirando o percurso filosófico de cada texto até chegarmos à compreensão de certa ordem argumentativa utilizada. O trabalho está dividido em três capítulos, sendo o primeiro consagrado à reconstrução da doutrina moral kantiana, sobretudo, a partir dos principais tópicos que serão caros ao estudo de Scheler. O segundo capítulo é dedicado à ética material dos valores, em seus pormenores, tendo em vista a apreciação do “formalismo moral”. E, por fim, no terceiro capítulo, encontra-se apresentada a crítica que Scheler endereçou, por meio de sua teoria ética, à doutrina moral de Kant, destacando-se as principais causas das divergências e incompatibilidades entre as duas doutrinas morais; conclui-se, por fim, que o ponto de desacordo reside nas diferenças metodológicas que caracterizam seus respectivos pontos de partida, já que Kant parte de uma perspectiva analítico-sintética e Scheler, por sua vez, fenomenológica.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ASPECTOS DA RELAÇÃO ENTRE PROGRESSO JURÍDICO E PROGRESSO MORAL NA FILOSOFIA DA HISTÓRIA KANTIANA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Autor: Cleidson De Oliveira Lima
Orientador: Prof. Dr. Edmilson Menezes Santos
Ano: 2021
RESUMO: A ideia de que a humanidade se encontra em constante progresso para o melhor é a tese central da filosofia da história kantiana. Para esta, o progresso na história é guiado pelo estabelecimento e aperfeiçoamento de uma ordem jurídica, meio para o desenvolvimento completo das disposições naturais. Nesta perspectiva, é possível compreender a liberdade como externa, cuja vinculação dá-se com o direito, ou interna, relacionada ao desenvolvimento das disposições morais, cuja esfera é o respeito à lei moral. Esta pesquisa buscou reconstruir e confrontar os argumentos tanto dos intérpretes que defendem a proposta de um progresso moral quanto daqueles que sustentam a de um progresso jurídico. Tratou-se de cotejar as ideias dessas duas correntes interpretativas, de modo a verificar o deslindamento de um campo tensional inerente àquela parte da filosofia de Kant. A primazia estabelecida para cada um dos campos pelos dois grupos de comentadores acabou por diminuir o poder de articulação que o direito e a moral adquirem na proposta kantiana para a história.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ROUSSEAU E THOREAU: A INFLUÊNCIA DO PROGRESSO DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES NA DEGENERAÇÃO DO “EU”
Autor: Douglas dos Santos Campos
Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Sant’Anna Alves Primo.
Ano: 2021
RESUMO: O efeito do usufruto dos artifícios nas atividades humanas é um tema de grande debate na filosofia. Houve filósofos que enxergaram, em tal fenômeno, benefícios e progressos à humanidade. Outros, por sua vez, demonstraram ressalvas a esse efeito. A discussão proposta nesta dissertação voltou-se para dois filósofos que certamente se encaixam na segunda categoria: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Henry David Thoreau (1817-1862). Em ambos existem críticas ao que nomeamos de “degeneração do ‘eu’”. Nessa perspectiva, o progresso das ciências e das artes influenciou a perda da intimidade do “eu”. Os autores, depois de uma análise da dinâmica social de seus respectivos tempos (regida pela mediação do artifício) concluíram que o humano, imerso nas ciências e nas artes, degenera a intimidade do seu “eu”. Nosso objetivo geral é apresentar as coadunações argumentativas dessas críticas à “degeneração do ‘eu’”, presentes nas obras dos dois autores supracitados. Para tanto, seguindo o método comparativo empreendido por L. Gary Lambert (1968), fizemos leitura tanto das obras quanto da biografia dos dois autores. Das obras de Rousseau escolhemos o Discurso sobre as ciências e as artes (1750), o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1775), as Confissões (1782), os Devaneios do caminhante solitário (1782), a Carta a Christophe de Beaumont (1762). Das obras de Thoreau escolhemos a Desobediência Civil (1849), Walden, (1854) A vida sem princípios (1863), Caminhando (1862) e os Diários (1837-1860). O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro é consagrado à reconstrução da argumentação rousseauísta. O segundo capítulo é dedicado à reconstrução da argumentação thoreauviana. E, por fim, no terceiro capítulo, apresentamos as semelhanças e as divergências argumentativas entre ambos. É isso que pretendemos evidenciar em nossa pesquisa.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A FUNÇÃO DAS FIGURAS GORGIANAS DA LINGUAGEM NA PERSUASÃO EM GÓRGIAS
Autor: Frederico Alves De Almeida
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci.
Ano: 2021
RESUMO: A proposta desta pesquisa está baseada na pesquisa do uso das ditas figuras gorgianas da linguagem ancorada no trabalho do filósofo Górgias de Leontinos (483 – 375 a.C.). Analisaremos o modo como nosso filósofo empregou o recurso das figuras de linguagem dentro de sua famosa retórica. Inicialmente, apresentaremos o que, fundamentalmente, tornou Górgias tão conhecido dentre outros notórios sofistas a partir de sua retórica e como as figuras de linguagem estão relacionadas a isso. Em seguida, faremos a apresentação do Elogio de Helena e a identificação das figuras de linguagem no referido texto. E, por último, faremos a análise do modo como Górgias usou das referidas figuras de linguagem durante a defesa de Helena de forma a tentar compreender, mesmo que inicialmente, de que forma essas figuras contribuem para a persuasão em Górgias. Entendemos que esse trabalho pode ser o início de um trabalho mais profundo sobre a temática e contribuir para a compreensão da excelência de Górgias como orador.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O CONCEITO DE MORTE NO LIVRO “BREVIDADE DA VIDA” DE SÊNECA
Autor: Gleywbliston De Souza Resende
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci.
Ano: 2021
RESUMO: A proposta desta pesquisa está baseada na temática da morte ancorada na filosofia do estoico Lúcio Aneu Sêneca (I AEC - 65 EC).), de maneira especialmente restrita a obra Sobre a Brevidade da Vida. Nela, analisamos os argumentos propostos por ele sobre a morte e objetivamos, a partir das análises desses argumentos, trazer à tona algumas considerações sobre o aspecto educativo de sua filosofia na busca e na formação do ser humano ideal. Entendemos a este como sendo sábio e/ou racional, isto é, aquele indivíduo que possui a capacidade de manter o controle do medo da morte e da mortalidade, subjugando seus sentimentos, seus impulsos e todos os tipos de paixões ao domínio da razão. Deve-se refletir como estes aspectos de seu pensamento sobre a morte e a mortalidade nos permite compreender a necessidade de superação do medo da morte, para que o ser humano possa ser livre desse grilhão, realizar sua natureza, que é viver de maneira racional e virtuosa.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ALTERIDADE EM HANNAH ARENDT: UMA ANÁLISE DO LIVRO EICHMANN EM JERUSALÉM
Autor: Henry Augusto De Souza Mendonça Morais
Orientador: Prof. Dr. Romero Junior Venâncio Silva
Ano: 2021
RESUMO: A presente dissertação desenvolver-se-á através do método fenomenológico, com base na pesquisa bibliográfica, e abordará a investigação do conceito de alteridade na bibliografia arendtiana. Neste sentido, em seu primeiro capítulo compreenderá a construção da categoria alteridade em conjunto com o conceito de pluralidade e com o seu olhar interior. No segundo capítulo percrustar-se-á a investigação da ausência da alteridade e o aniquilamento da comunidade durante o regime totalitário; para tal, o foco será a apreciação da obra Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. O objetivo desta pesquisa é compreender as implicações da categoria de alteridade, seja em sua presença ou em sua ausência e, a sua conexão com a categoria da banalidade do mal. Contempla-se que o conceito de alteridade é a base de toda obra arendtiana e, por outro lado, a sua ausência coopera diretamente para o aniquilamento da comunidade, e é o campo necessário para o nascimento e perpetuação da comunidade totalitária e promulgação da banalidade do mal.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A MARCA DE SEXTO EMPÍRICO NA FILOSOFIA MORAL DE MONTAIGNE
Autor: Karina Nunes Dos Santos
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Pinto de Brito
Ano: 2021
RESUMO: A despeito da controvérsia persistente acerca do ceticismo atribuído à Montaigne, a construção de sua filosofia moral muito se deve à leitura das Hipotiposes pirrônicas, de Sexto Empírico – filósofo cético da Antiguidade –, quando do seu exílio voluntário, após a morte de seu pai. Católico declarado, Montaigne se insere nos debates da Reforma Protestante e Contrarreforma, apontando uma solução possível e pacífica entre racionalistas e fideístas. Nosso objetivo é apresentar as similitudes entre as filosofias dos dois filósofos supracitados, a partir dos conceitos de “natureza”, “razão” e “costume”, apontando, assim, a construção do relativismo dos costumes, em Montaigne, que o marca como cético pirrônico, em certa medida. A marca de Sexto em Montaigne também se mostra na semelhança entre “a razão dos animais”, presente no Ensaio “Apologia de Raymond Sebond”, de Montaigne e, os conceitos de “presunção” e “precipitação”, de Sexto Empírico. Para tanto, faremos uso de análise bibliográfica das obras supracitadas, bem como de seus maiores comentadores. A dupla solução montaigniana apaziguou as disputas acerca do critério de verdade – precipitadas por Martinho Lutero – e abriu passagem para o ceticismo se recolocar nos debates filosóficos, permitindo-nos vislumbrar as luzes do Iluminismo que viria a se manifestar, posteriormente.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DISSERTATIO DE ARTE COMBINATORIA: TRADUÇÃO E COMENTÁRIOS
Autor: Marcos Deyvinson Ferreira Damacena
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí
Ano: 2021
RESUMO: Em 1666, o filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz escreveu sua Dissertatio de arte combinatoria, para concorrer a uma vaga de professor na Universidade de Leipzig. O texto consta de sinopse, proêmio, uma demonstração da existência de Deus, definições e 12 problemas de combinatória que podem vir acompanhados de teoremas ou suas aplicações. A nossa proposta é apresentar uma edição portuguesa inédita e crítica, com tradução, notas de rodapé e um breve comentário acerca do texto traduzido, à guisa de apresentação. Nossa tradução do latim foi confrontada com três traduções já disponíveis para línguas atuais. Utilizamos diversos dicionários e gramáticas físicas e virtuais. Este trabalho está inserido nas edições críticas produzidas pelo GEFILUFS e pela Red Iberoamericana Leibniz.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2020 ---------------------------------------------------------
TITULO: A TEORIA DAS IDEIAS E O CONCEITO DE IDENTIDADE PESSOAL EM LOCKE
Autor: Daniel Soares Silveira
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí.
Ano: 2020
RESUMO: No capítulo XXVII, do livro II, do Ensaio sobre o entendimento humano, John Locke estabelece a identidade pessoal como se resumindo na identidade da consciência. Nosso objetivo, nesta dissertação, é apresentar as razões derivadas da sua teoria das ideias que levam o autor do Ensaio a essa posição. Tendo isso em vista, dividimos nosso texto em três partes: na primeira, expormos a crítica de Locke a existência de ideias inatas e sua teoria lockiana das ideias, afirmando que delas decorrem a concepção lockiana de identidade pessoal; na segunda, apresentamos as discussões preliminares de Locke referente à identidade pessoal e analisamos a sua noção de identidade; no terceiro, trabalharemos o conceito de identidade pessoal no capítulo “Da identidade e diversidade”. Com isso, pretendemos contribuir para os estudos sobre Locke no Brasil, principalmente nas questões relacionadas ao conceito de identidade pessoal.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: PSICOLOGIA DAS MASSAS: ENTRE GUSTAVE LE BON E SIGMUND FREUD
Autor: Renata Dias Ribeiro
Orientador: Prof. Dr. Antônio José Pereira Filho
Ano: 2020
RESUMO: Gustave Le Bon (1895-1931), em sua obra Psicologia das multidões (1895), ao desenvolver um sistema segundo o qual se relacionam uma gama de conceitos provenientes da psicologia social emergente, ou seja, da virada do séc. XIX para o XX, abre caminho para uma discussão de suma importância para a nova política que se configura na Europa na primeira metade do século passado. Partindo das considerações de Le Bon, a hipótese que orienta nossa pesquisa consiste em mostrar que a política e o campo intersubjetivo dos afetos são indissociáveis. Nessa perspectiva, remontaremos a principal obra de Gustave Le Bon, resgatando seus principais conceitos tais como multidão, sugestão e contágio, tendo em vista uma abordagem aprofundada de categorias que se apresentam no desenrolar desses conceitos, tais como imaginação e inconsciente. Ora, se o fenômeno da multidão é um advento que revela como as transformações na história estão diretamente vinculadas aos sentimentos mais primitivos dos povos, de tal sorte que a sugestão e o contágio revelam-se por via de um imaginário coletivo forjado por um líder, podemos seguir nossa investigação apontando para a relação entre a política e a dinâmica dos afetos. O segundo momento desta pesquisa, aprofunda-se nesse sistema desenvolvido por Le Bon, mas à luz da psicanálise freudiana, uma vez que Sigmund Freud, sobretudo em textos como a Psicologia das massas e análise do Eu, além de reafirmar a importância do estudo das multidões, investe na compreensão das mudanças psíquicas dos indivíduos em um grupo ou massa. Para isso, ele apresenta conceitos que figuram certa continuidade, ao mesmo tempo que rompe em vários aspectos em relação à tese leboniana, com destaque para as noções de libido e identificação. Ademais, nos parece pertinente revisitar a obra de Theodor Adorno, intitulada A teoria Freudiana e o padrão da propaganda fascista, pois nela encontramos uma interpretação singular da teoria freudiana, além da ilustração de como a propaganda fascista se serviu amplamente do estudo da psicologia das multidões para angariar adeptos cegos e subservientes, o que nos faz crer ser assunto indispensável para a presente investigação no campo da ética e da filosofia política.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A COMPOSIÇÃO DA NARRATIVA SEGUNDO PAUL RICOEUR E O LIVRO DO DESASSOSSEGO DE FERNANDO PESSOA
Autor: Denis Ricardo Da Silva
Orientador: Prof. Dr. Matheus Hidalgo
Ano: 2020
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo discutir a composição da narrativa segundo Paul Ricoeur e apresentar uma possibilidade de sua crise a partir do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa. No primeiro momento, vamos realizar uma exposição do que consiste a gênese da composição narrativa em Ricoeur (narrativa como arte de tecer intrigas, síntese do heterogêneo). Tomaremos como referência principal nesse primeiro momento o tomo I da obra Tempo e Narrativa. No segundo momento, pretendemos realizar uma exposição em torno da análise que Ricoeur faz sobre a especificidade do gênero romance e da metamorfose da noção de intriga, e até da situação de possibilidade de sua crise na literatura contemporânea. Tomaremos como referência principal nesse segundo momento a primeira parte do tomo II da obra Tempo e Narrativa. Por fim, no terceiro e último momento, pretendemos pontuar algumas observações que indiquem, provavelmente, a singularidade do Livro do Desassossego como um exemplo literário que representa uma expressão diretamente implicada numa crise da narrativa e, por conseguinte, um antagonismo à posição teórica de Paul Ricoeur. Também buscaremos demonstrar a singularidade do Livro como uma literatura talvez inclassificável, no que diz respeito à sua forma e ao seu gênero. Sendo assim, O Livro do Desassossego surge em nossa pesquisa com o papel de suscitar contrapontos e questionamentos no que se refere ao modo clássico da narrativa, que Ricoeur forjou como modelo fundamental para criar obras de ficção ao longo da tradição literária.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A RELAÇÃO ENTRE COMÉRCIO E INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS EM MAQUIAVEL
Autor: Igor Ferreira Fontes
Orientadora: Profa. Dra. Flávia Roberta Benevenuto de Souza
Ano: 2020
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo investigar, dentro da obra maquiaveliana, de que modo as instituições da República abrigariam o comércio e como este a beneficiaria. A pesquisa se desenvolve a partir do seguinte problema: como o comércio se insere no projeto republicano elaborado por Maquiavel para Florença? A hipótese a ser verificada é que o comércio pode contribuir para o enriquecimento, aumento populacional e expansão territorial da república, e o alargamento das instituições para abrigar em seu interior todos os humores da cidade tende a dificultar a interferência dos grandes no comércio exercido pelos demais cidadãos, o que propiciaria condições mais favoráveis à realização da atividade. A metodologia usada é o contextualismo de Skinner. Para a realização da pesquisa foram determinados três objetivos específicos, correspondentes aos três capítulos da dissertação: 1) contrapor os juízos de Savonarola e Maquiavel acerca da suposta relação entre comércio, armas mercenárias e corrupção; 2) verificar como o comércio pode ser útil à república; e 3) analisar como a composição das instituições republicanas pensadas por Maquiavel no Discurso sobre as formas de governo de Florença se refletiria nas decisões do governo relativas ao comércio. A conclusão a que se chegou é que Maquiavel admite a possibilidade de o comércio coexistir com o vivere libero e ser exercido de modo a contribuir com o crescimento da república em riquezas e domínios e elabora para Florença uma estrutura político-institucional que exige haver acordo entre grandes e povo para se deliberar uma questão, o que permite a este se opor institucionalmente a qualquer tentativa daqueles de comandar a vida econômica da república.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: SCHOPENHAUER E O ARGUMENTO POR ANALOGIA NA TRANSIÇÃO DA APARÊNCIA PARA A COISA EM SI
Autor: Matheus Silva Freitas
Orientador: Prof. Dr. Arthur Eduardo Grupillo Chagas
Ano: 2020
RESUMO: No §19 de O mundo como vontade e como representação, Schopenhauer (1788-1860) procura desvendar a essência do mundo por meio de uma analogia com o nosso próprio corpo. Para alguns comentadores, essa analogia é formulada em termos de um argumento, em que toda similaridade constatada entre as coisas corpóreas, em seu aspecto exterior, é apontada como premissa, da qual se conclui que elas devem ser idênticas também em seu interior; portanto, são exatamente aquilo que cada ser humano pode conhecer por meio de uma autorreflexão, a saber, “vontade”. Outro grupo de intérpretes rechaça que Schopenhauer ofereça a analogia como uma prova, no sentido da lógica formal. Segundo eles, a consideração analógica é, antes, um instrumento de acesso ao cerne da natureza, a partir da interpretação da experiência interna humana. Com base na bibliografia especializada, dois questionamentos se impõem e norteiam esta dissertação: a) como sustentar que a analogia foi mesmo empregada como uma prova, tendo em vista as inúmeras objeções a que ela está sujeita, de uma perspectiva da lógica clássica? E, b) se ela se configura como um instrumento de acesso à essência do mundo, conhecimento dessa essência é, por isso, mais incerto que aquele mais imediato, percebido por cada um dentro de si mesmo? Cada uma dessas questões será abordada contra um pano de fundo específico: a primeira, à luz da epistemologia de Schopenhauer, a segunda, a partir de sua crítica da maneira como Kant aborda o problema da coisa em si. Caso a analogia seja lida como um “argumento retórico”, que não tem a intensão de provar uma tese com correção formal, mas apenas de persuadir o interlocutor de sua verossimilhança, as discussões sobre sua validade ou invalidade redundariam secundárias. Essa é a chave de leitura que a presente dissertação propõe como alternativa, e que suscita uma terceira questão: é possível esperar que essa verossimilhança seja convertida, de fato, num conhecimento verdadeiro do caráter mais íntimo mundo? Essa resposta será buscada, sobretudo, em manuais de retórica e nos pontos de contato que o próprio Schopenhauer destacou, entre a sua metafísica e as ciências empíricas de sua época.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DE HEIDEGGER A HABERMAS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA NOÇÃO DE DISCURSO
Autor: Priscila Kelly Silva Ferreira
Orientador: Prof. Dr. Arthur Eduardo Grupillo Chagas.
Ano: 2020
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é examinar a noção de discurso em torno da obra Ser e Tempo de Heidegger e em torno da pragmática linguística de Habermas, enfatizando a relação entre sentido e referência e o fenômeno da comunicação em ambas as reflexões filosóficas. O intuito é, a princípio, elucidar a particularidade do discurso (Rede) na analítica existencial do Dasein para em seguida identificar os problemas estruturais que esta noção apresenta no contexto da ontologia fundamental, bem como mostrar uma alternativa para os problemas epistemológicos e ontológicos condicionados pelo papel da linguagem na fenomenologia hermenêutica heideggeriana, qual seja: a teoria do discurso (Diskurs) de Habermas que se apresenta como alternativa de superação do idealismo linguístico consequente da concepção de linguagem defendida por Heidegger em Ser e Tempo. O problema da natureza da linguagem se tornou central para a filosofia no século XX. As duas vertentes, analítica e continental, possuem interesses em comum acerca de tal problema e reflexões que dizem respeito à relação entre sentido e referência. Desse modo, iremos seccionar nosso trabalho em três momentos: 1) apresentar as principais dimensões analíticas que tornam a noção de discurso central para a ontologia fundamental heideggeriana; 2) aprofundar as críticas ao projeto heideggeriano de Ser e Tempo, a saber: a tese de que a compreensão de mundo é múltipla e holista, relativa à abertura de mundo de uma determinada época, e a tese de que o sentido determina a referência, isto é, o modo que compreendemos os entes determina como os entes podem ser referidos; e 3) apresentar uma alternativa ao idealismo linguístico heideggeriano, a saber: a teoria do discurso de Habermas que propõe uma transformação da razão: a razão comunicativa estabelecida a partir de uma articulação entre elementos da filosofia transcendental moderna, da linguística e da filosofia da linguagem.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O PROBLEMA DO CONHECIMENTO DE DEUS: A BASICIDADE APROPRIADA DA CRENÇA TEÍSTA E AS OBJEÇÕES GREAT PUMPKIN
Autor: Tiago Barreto Silva
Orientador: Prof. Dr. Adilson Alciomar Koslowski
Ano: 2020
RESUMO: O objetivo desta dissertação é analisar as objeções tipo-Great Pumpkin formuladas contra a basicidade apropriada da crença teísta como defendida pelo filósofo Alvin Plantinga (1932-). Nesse contexto, a tese de que a crença teísta pode ser apropriadamente básica constitui o objeto desta pesquisa, enquanto seu problema pode ser resumido na seguinte questão: se a crença em Deus é apropriadamente básica, por que não poderíamos pensar a mesma coisa de qualquer outra crença? No primeiro capítulo, apresentamos a discussão sobre a racionalidade da crença religiosa e a rejeição da objeção evidencialista da crença teísta por Plantinga, a partir da crítica formulada pela Epistemologia Reformada à Teologia Natural. No segundo capítulo, tratamos do problema da análise do conhecimento proposicional, das críticas formuladas por Alvin Plantinga ao “pacote clássico” da epistemologia (fundacionalismo-evidencialismo-deontologismo clássicos) e apresentamos a teoria da função apropriada proposta por Plantinga. No terceiro capítulo, descrevemos como o funcionalismo apropriado foi aplicado à crença teísta, a partir da construção do Modelo Aquino/Calvino, analisamos as objeções tipo-Great Pumpkin, principalmente aquelas formuladas por Michael Martin (1990) e Keith DeRose (1999) e sustentamos que é possível defender a ideia da basicidade apropriada da crença em Deus, sem que com isso se admita ser racional acreditar em crenças bizarras. A metodologia empregada consistiu em análise e crítica dos argumentos de Plantinga, fundamentalmente encontrados em sua trilogia Warrant (1993a, 1993b e 2000), principalmente sua magnum opus Warranted Christian Belief (2000), confrontando-os com as objeções dos seus críticos. Ao final, sustentamos que é possível defender a basicidade apropriada da crença em Deus como articulada por Plantinga.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2019 ---------------------------------------------------------
TITULO: DEFINIÇÕES PRELIMINARES PARA UMA CLASSIFICAÇÃO DAS FALÁCIAS INFORMAIS
Autor: Alípio José Viana Pereira Neto
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci
Ano: 2019
RESUMO: Cuida-se de dissertação cujo objetivo é compreender e criticar a abordagem tradicional das falácias informais, bem como algumas das contribuições fornecidas pelas abordagens contemporâneas. Pretende-se, com isso, apresentar uma concepção de falácia informal capaz de sustentar ulterior classificação, de sorte que essa seja passível de ser usada como ferramenta objetiva de análise e avaliação do discurso argumentativo. Inicialmente expomos, de modo geral, qual o escopo da Lógica Formal e o que são as falácias formais. Posteriormente, apresentamos uma caracterização mais detalhada da Lógica Informal, em cotejo com as noções de Lógica Formal e falácia formal, previamente definidas. Na sequência, exibimos nossa crítica sobre o tratamento padrão das falácias informais, conferido dentro da competência da Lógica Formal, examinando e criticando, também, as contribuições trazidas pelas abordagens contemporâneas, em sede de Lógica Informal. Por fim, revelamos nosso ponto vista sobre a noção de falácia informal e como ela se relaciona com a possibilidade de sua classificação.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: ARTE E MODERNIDADE NO JOVEM HEGEL
Autor: Carlos Kleyvon Araujo Souza
Orientador: Prof. Dr. Everaldo Vanderlei de Oliveira
Ano: 2019
RESUMO: Trata-se de examinar a posição da arte no jovem Hegel, tomando como ponto de partida a concepção de modernidade que atravessa os textos do período. Na concepção hegeliana, a cisão do mundo da cultura em arte, moral e ciência, sob o império da razão, cria também uma ruptura entre o passado e o futuro, assim como entre o antigo e o moderno. Com base na “utopia estética” de Schiller, o jovem Hegel vê na arte a possível solução aos problemas desta modernidade cindida. Neste sentido, constitui hipótese de trabalho o papel atribuído à arte, não apenas como o de exprimir as separações modernas nas relações de vida, mas também o de indicar sua reconciliação. Para tanto, a investigação apresenta, inicialmente, duas visões acerca do conceito de modernidade em Hegel, quais sejam, a de Jürgen Habermas e a de Charles Taylor. Na perspectiva de Habermas, Hegel foi o primeiro filósofo a tratar como problema a modernidade, pois esta tem a singularidade de procurar a todo momento autocertificar-se e, ao mesmo tempo, extrair de si mesma os critérios de avaliação e conceitos, sem recorrer ao passado exemplar. Sob essa concepção a modernidade exprime, em seus aspectos, a divisão do mundo da vida, pois a sociedade civil, de um lado, aparece genuinamente como “a criação do mundo moderno” e, por outro, como “eticidade perdida em seus extremos”. Na visão de Taylor, Hegel concebe a modernidade como a época da revolução subjetiva, o que originou a nova teoria política e a nova concepção de liberdade. Taylor, neste ponto, liga a nova posição da arte à reflexão de Herder e Schiller, e não imediatamente a Hegel, mas, mesmo neste caso, ainda se trata da “utopia estética” em sentido próximo ao desenvolvido pelo jovem Hegel. Para este, é atribuição da arte apresentar a crítica da modernidade, remetendo às cisões manifestadas nas diferenciações entre liberdade e necessidade, espírito e natureza, e ao mesmo tempo, indicar sua reconciliação.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: RATIO ANSELMI: ARGUMENTO OU ARGUMENTOS ONTOLÓGICOS DE SANTO ANSELMO?
Autor: Cinthia Almeida Lima
Orientador: Prof. Dr. João Alexandre de Viveiros Cabeceiras
Ano: 2019
RESUMO: Esta dissertação tem por escopo constatar se procede a alegação, feita pela primeira vez por Norman Malcolm (1911-1990), de que no Proslógio, escrito por Santo Anselmo (1033-1109), há dois argumentos ontológicos, não um, opostamente ao que sempre se pensou. Para tanto, foram estabelecidas três etapas: tecer breves considerações sobre a vida de Anselmo e apresentar sua argumentação no Proslógio, o que é feito no primeiro capítulo; analisar como Malcolm distingue os dois argumentos, o que é feito no segundo capítulo; inspecionar se o próprio Anselmo entende que o Proslógio contém dois argumentos ontológicos e decidir, com base nas etapas anteriores, se há mesmo dois argumentos ontológicos no Proslógio, o que é feito no terceiro capítulo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: NATUREZA HUMANA E HISTÓRIA EM DAVID HUME
Autor: Alana Boa Morte Café
Orientador: Prof. Dr. Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro
Ano: 2019
RESUMO: O presente estudo busca examinar as relações entre história e natureza humana em David Hume, tendo em vista que a natureza humana é objeto privilegiado para o autor e que as narrativas históricas aparecem expressivamente ao longo de sua obra. A história se associa ao tipo de conhecimento com o qual Hume se encontra comprometido, uma vez que os exemplos retirados da história se apresentam como um recurso à experiência nos raciocínios do autor: a tarefa de fundar todo conhecimento na experiência encontra, nos relatos históricos, não só matéria em ampla quantidade, mas também forma textual de particular interesse. E, se a história é fundamento experimental nos raciocínios de Hume, então o conhecimento da natureza humana deve se dar a partir do estudo da história, donde se pergunta – de que modo a história ensina sobre os princípios da natureza humana? Quanto a isso, argumenta-se que, em Hume, a história vai constituindo a natureza humana, afirmação com a qual se quer indicar (a) o reconhecimento de uma perspectiva histórica como ponto de partida da filosofia e (b) a necessidade de regular os resultados da investigação filosófica à experiência conforme a investigação se desenvolve, o que se faz a partir também dos relatos da história. Em outras palavras, o presente estudo defende que a filosofia humeana requer um conhecimento da natureza humana que se elabora, dentro do texto, tendo por fundamento uma experiência histórica, o que só pode ser plenamente entendido ao se assumir, fora do texto, a existência de condições para a atividade filosófica de igual modo pensadas historicamente.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O SABER PRUDENCIAL: A RETOMADA DO SABER MÉDICO/RETÓRICO NA CRITICA DE VICO AO MÉTODO DE ESTUDOS DO SEU TEMPO.
Autor: Jediel Alves de Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Antonio José pereira Filho
Ano: 2019
RESUMO: O presente trabalho trata da crítica empreendida pelo filósofo Giambattista Vico (1688- 1744) ao modelo pedagógico e científico vigente em sua época, que a princípio ele discute em uma obra de “juventude”, o De nostri temporis studiorum ratione (De Ratione), de 1708. Muito influenciado pelo cartesianismo, a ratiostudiorum (método de estudo) a qual Vico se opõe, provocaria, segundo o filósofo, a fragmentação do conhecimento em diversos campos dos saberes na modernidade, além de romper com os preceitos da tradição retórica que servia de base ao humanismo cívico do qual Vico pode ser considerado um expoente tardio. Frente a esse processo disseminado pelo cartesianismo, Vico irá retomar alguns preceitos da tradição médico/retórica, sobretudo os pensadores antigos Hipocrates e Cícero, que servem de base para alicerçar sua crítica ao cartesianismo. Todavia, devemos frisar que o intento viquiano não se dá necessariamente porque a difusão do cartesianismo alterou a produção de conhecimento da modernidade, mas sim pelas consequências danosas da aplicação do método. Vico mostra, por exemplo que o processo de especialização das ciências ao invés de torná-las mais eficientes pode justamente surtir o efeito contrário, tornando-as estéreis. Além disso, outra preocupação de Vico diz respeito à pedagogia. Assim, de um ponto de vista pedagógico, o cartesianismo, para Vico, desprestigia faculdades importantes ao desenvolvimento da criança ao sugerir um método pautado na arte crítica ou arte de julgar, ou seja, um método que dá relevo às ciências apodíticas ou formais como a álgebra, a matemática e a geometria em detrimento das artes humanas (arshumanitatis), como a história, a retórica, a poética e o direito, que tratam do possível, do provável e do verossímil. Aos olhos de Vico essa formação gera danos ao engenho agudo que compreende as faculdades ligadas ao sensível como a memória, a imaginação e a inventividade, que são cruciais ao desenvolvimento cognitivo e social, bem como à prática política. Vico mostra que a negligência cartesiana frente a estas faculdades pode acarretar prejuízo na formação de sujeitos, tornando-os inaptos à vida civil. Frente a isso, Vico propõe um modelo pedagógico mais abrangente que preserve a critica de índole cartesiana e a tópica inventiva que é um preceito fundamental da tradição retórica. Essa formação complementar e processual evitaria danos à faculdades importantes e, por conseguinte, que o pensamento especializado se tornasse mero instrumento de domínio, provocando o que Vico chama na Ciência Nova de “barbárie da reflexão”
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: INATISMO LINGUÍSTICO: UMA INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CHOMSKYANO
Autor: Giovani Pinto Lírio Júnior
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí.
Ano: 2019
RESUMO: Este trabalho pretende investigar os principais aspectos do inatismo linguístico de Noam Chomsky. Para tanto, nossa pesquisa será dividida em três momentos. No primeiro momento, faremos um resumo dos principais fundamentos históricos e filosóficos que serviram de lastro para o resgate do inatismo linguístico no início da segunda metade do século XX, para em seguida, fazermos uma breve caracterização do inatismo chomskyano que vê a linguagem humana como um objeto natural. No segundo momento, buscaremos compreender os principais conceitos e bases metodológicas do inatismo chomskyano que culminaram no modelo de Princípios e Parâmetros. Por fim, no terceiro momento, faremos uma breve apresentação acerca dos principais pressupostos da Biolinguística, a saber: a evolução da linguagem, a estrutura orgânica da linguagem e a relação entre linguagem e neurociência.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A BUSCA ESTÉTICA DE EDMUND BURKE: UMA DISTINÇÃO ENTRE O SUBLIME E O BELO
Autor: Gustavo Andrade Prado
Orientador: Prof. Dr. Arthur Eduardo Grupillo Chagas
Ano: 2019
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo investigar os conceitos estéticos do filósofo irlandês Edmund Burke (1729 – 1797). Seu legado à civilização, no que concerne a seus estudos sobre o tema, foi plasmado nas palavras que constituem o “tratado”, como o autor o denomina, Uma Investigação Filosófica sobre a Origem de nossas Ideias do Sublime e do Belo, cuja primeira edição foi publicada no ano de 1757. Em decorrência de haver destinado grande parte da sua existência à vida política, eternizou-se nas alíneas do tempo com a obra Reflexões sobre a Revolução em França, de 1790, o que lhe rendeu o eterno renome de “pai do conservadorismo”. Por outro lado, Immanuel Kant (1724 – 1804) o considerou como o filósofo empirista mais importante em questões estéticas. De fato, o tratado de Burke respira empirismo, embora o autor lance mão de variados métodos, a exemplo da indução newtoniana, e alusões ao cartesianismo e outras influências, em sua busca de vislumbrar uma teoria sobre o sublime e o belo, ainda que ciente das dificuldades, e limitar-se a remontar esses atributos às suas origens. Uma gama de pensadores e correntes de pensamento embasam seus argumentos, abrangendo a filosofia, literatura, religião (católica) e ciência. Abrangência essa que, por vezes, obstrui a essência da matriz que tenta esboçar com os seus conceitos. Assim, este estudo será movido a sondar se Burke foi bem-sucedido em construir uma teoria estética, ou o quanto ele se aproximou desse objetivo. Procuraremos mostrar que o pensador irlandês buscou essa teoria na caracterização e na distinção do sublime e do belo. Ao fim, mostrar-se-á ponderações sobre o gosto e as possíveis razões da sua diversidade.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2018 ---------------------------------------------------------
TITULO: WALTER BENJAMIN E O CINEMA: A OBRA DE ARTE E A EXPERIÊNCIA DA MODERNIDADE
Autor: Ismar Francisco Frado Torres
Orientador: Prof. Dr. Everaldo Vanderlei de Oliveira
Ano: 2018
RESUMO: Este estudo tem por objetivo desenvolver uma reflexão sobre a possível articulação entre a teoria do cinema em Walter Benjamin, proposta em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, e sua teoria da experiência. O problema que norteia este trabalho pode ser exposto da seguinte maneira: é possível a construção de um cinema politicamente eficaz em sentido revolucionário e que, ao mesmo tempo, possa estimular o desenvolvimento da experiência no sentido benjaminiano? Para responder, é necessário analisar as reflexões de Benjamin sobre a modernidade e as diversas consequências advindas do “efeito de choque”. Além disso, ao refletir sobre o cinema, leva-se em consideração a reprodutibilidade técnica e o desencantamento da obra de arte por meio da perda da aura. Por fim, busca-se articular a teoria benjaminiana do cinema com sua teoria da experiência, para mostrar a transformação das funções sociais da arte. Para tanto, é preciso analisar alguns aspectos da filosofia da história de Benjamin, assim como os conceitos de “inconsciente ótico” e de “jogo”, na medida em que podem ser relacionados ao cinema.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: TECNOLOGIA, HISTÓRIA E ONTOLOGIA. A técnica como desvelamento, obscurecimento e compreensão no pensamento de Martin Heidegger
Autor: Altieris Bortoli
Orientador: Prof. Dr. Arthur Grupillo
Ano: 2018
RESUMO: Nesta pesquisa será analisada a essência da tecnologia na ontologia hermenêutica de Martin Heidegger (1889-1975). Considerando o texto A Questão da Técnica (1953), Heidegger postula que a tecnologia não é um meio de produção, mas um modo de verdade, no sentido grego do desvelar. Esse desvelamento, ontologicamente ambivalente porque é o próprio Ser que se desvela ao mesmo tempo se velando, constitui o movimento da história do Ocidente como aberturas de mundo “prévias” para compreensão dos entes. Nesse sentido, a tecnologia é somente um modo de verdade na constelação da história que Heidegger nomeia metafísica. A compreensão tecnológica do mundo, como modo de saber, perde seu vigor se não for levada ao seu espaço vital, isto é, a história. As obras Ser e Tempo (1927), Nietzsche I e II (1936/46) e Contribuições à Filosofia (1930/40) nos fornecem as ferramentas necessárias para explorar a ontologia da história. A questão central deste trabalho é: como o Ser, na tecnologia, atua contra sua própria essência historial? Esta tarefa exige o esclarecimento de duas questões basilares. Primeiro, o que significa o termo “Ser” na filosofia heideggeriana? A noção de “a priori perfeito” será norteadora nesta etapa da pesquisa. Segundo, qual o sentido da história? As múltiplas respostas para esta questão – realismo ôntico, idealismo ontológico ou temporal – derivam de uma interpretação do Ser como a priori (perfeito) que, historialmente, se essencia em sua verdade. O a priori, porém, se ofusca se não for lançado para dentro da ontologia, ou melhor, da diferença ontológica, na distinção da relação entre ser e ente. A natureza do a priori nos permite dizer como, na história, o Ser atua contra sua essência através da tecnologia.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: GÓRGIAS DE LEONTINOS: FILÓSOFO, RETOR, POLÍTICO, E SUA RETÓRICA DO KOSMOS SOCIAL
Autor: Marcus de Aquino Resende
Orientador: Prof. Dr. Aldo Dinucci.
Ano: 2018
RESUMO: O objetivo da pesquisa que suscita este trabalho é identificar a função primordial da retórica de Górgias de Leontinos. Pretendemos explorar o contexto da sofística no século V a.C., destacando os conflitos da época em função das duras críticas de Platão e Aristóteles aos sofistas. Passaremos então pelo ressurgimento e reinterpretação da sofística no século XIX com a leitura de Hegel do Protágoras. Com esse pano de fundo estabelecido, propomos identificar Górgias dentre os sofistas, visto que as pesquisas apontam para uma diferenciação significativa entre Górgias e os demais, incluindo Protágoras. A formação de Górgias como filósofo, seu desempenho como o retor que abalou Atenas e sua experiência política como diplomata fornecem substrato para a defesa de uma retórica que exigia dos seus interlocutores uma postura filosófica prática, ligada à vida da polis, com o objetivo específico de preparar líderes que fossem capazes de tomar decisões que levassem em consideração a ordem social.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O PROBLEMA DO SENTIDO EM DELEUZE
Autor: Edson Peixoto Andrade
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí
Ano: 2018
RESUMO: Este trabalho pretende investigar o problema do sentido em Gilles Deleuze, tendo como base a obra Lógica do sentido. Em nossa investigação, buscaremos compreender como o sentido acontecimento engendra uma nova forma de fazer filosofia que não está centrada no paradigma da representação, mas objetiva um permanente resgate da dimensão do sentido acontecimento. Para tanto, investigaremos também aquelas que, segundo Deleuze, são suas fontes principais para a construção da lógica do sentido, a saber, a doutrina estóica dos incorporais, a filosofia de Leibniz, além de alguns textos de Lewis Carroll que, de acordo com o filósofo francês, são exemplos de atuação do sentido-acontecimento na linguagem.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2017 ---------------------------------------------------------
TITULO: GUERRAS E CONFLITOS VINCULADOS AO USO DAS ÁGUAS: GROTIUS E OS DESDOBRAMENTOS MODERNOS E CONTEMPORÂNEOS DA QUESTÃO
Autor: Sinizio Lucas Ferreira de Almeida
Orientador: Becker, Evaldo
Ano: 2017
RESUMO: O presente trabalho visa examinar a questão dos conflitos por recursos naturais, e em especial pela água, na reflexão filosófica moderna, e alguns de seus desdobramentos contemporâneos. Para tanto, partiremos das reflexões do jurista e filósofo holandês Hugo Grotius acerca das tentativas de privatização dos mares no século XVII, expostas tanto no Mare liberum (1609), quanto no Direito da guerra e da paz (1625), e dos conflitos e guerras gerados em função disso. Em um segundo momento examinaremos a recepção desse debate, pelo filósofo genebrino Jean Jacques Rousseau, no século XVIII, e os desdobramentos do mesmo através das teorias de autores contemporâneos, como Maude Barlow, nas obras Água: pacto azul (2009) e Água: futuro azul (2015) e Michel Serres, nas obras Contrato natural (1991) e A guerra mundial (2011). Estes examinam os atuais conflitos e guerras motivados pelo mau uso dos recursos naturais e pelas tentativas de privatização das águas, infringindo o que os autores propõem que seja considerado enquanto um direito humano à água e que está alicerçado no debate moderno acerca do direito natural.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O PROBLEMA DO MOVIMENTO NA META-FÍSICA DE DESCARTES & LEIBNIZ
Autor: Cloves Thiago Dias Freire
Orientador: Menna, Sergio Hugo
Coorientador: Piauí, William de Siqueira
Ano: 2017
RESUMO: Até que ponto a hipótese da harmonia preestabelecida, do filósofo alemão G. W. Leibniz se constitui como uma solução para às inconsistências do modo cartesiano e newtoniano de pensar o problema do movimento, seja dos corpos animados, seja dos corpos inanimados? Será com vistas a responder a este questionamento que, grosso modo, direcionamos nossa pesquisa. Para nós, a noção de movimento se constitui de forma problemática no início da filosofia natural moderna, pois, Descartes com fundamento em sua metafísica das substâncias distintas postula um interacionismo causal (ou filosofia dos corpos animados) que se for aceito como uma teoria consistente acarreta em graves violações as leis universais da natureza, mais especificamente sobre o princípio da conservação da total quantidade do movimento (ou filosofia dos corpos inanimados). Por seu turno, Newton, ao tentar refutar a filosofia cartesiana do movimento dos corpos inanimados, adota uma noção de espaço absoluto que tem como suas principais características ontológicas a independência dos corpos e sua total similitude. Ocorre que, como apontará Leibniz, a filosofia interacionista cartesiana se assenta sobre um equivocado conceito de substância e por conta dista o plano das causas eficientes interfere no plano das causas finais, tendo como consequências a violação das leis da natureza. Igualmente, ao tomarmos o espaço absoluto newtoniano como uma entidade real, não haverá movimento observável possível, posto que o espaço será totalmente indiscernível, não sendo possível assinalar as mudanças de situação que um corpo desenvolve neste espaço tota simul. Neste sentido, com vistas a alcançar nosso objetivo, promovemos a análise dos textos canônicos destes filósofos, confrontando-os uns com os outros e nos referenciando nas correspondências trocadas entre eles e seus maiores interlocutores. Como resultado, acreditamos que conseguimos apresentar de forma satisfatória um dos maiores debates do início da filosofia moderna que tem em seu bojo o problema do movimento, tanto dos corpos animados quanto dos corpos inanimados. Problema que encontra na filosofia leibniziana, com a hipótese da harmonia preestabelecida, sua formulação mais bem acabada, pois ao passo que considera o reino material e o reino imaterial incomunicáveis supera boa parte das inconsistências e violações metafísicas sobre as leis físicas do movimento. Acreditamos que este trabalho possui relevância significativa, pois recompomos o debate sobre o problema do movimento na filosofia de Descartes, Newton e Leibniz, tendo como fio condutor a premissa de que a metafísica deveria fundar os pressupostos da física. E será exatamente no campo da metafísica que Leibniz estruturará seu pensamento amparado na formulação de um novo conceito de substância: a Mônada.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: BENJAMIN E FREUD: SOBRE A POSSIBILIDADE DO INCONSCIENTE HISTÓRICO
Autor: Daniel Francisco dos Santos
Orientador: Prof. Dr. Everaldo Vanderlei de Oliveira
Ano: 2017
RESUMO: O presente estudo analisa as possíveis relações entre o conceito freudiano de inconsciente e o conceito benjaminiano de história. Tal análise tem por objetivo perseguir a seguinte pergunta norteadora: é possível o “inconsciente histórico”? Na busca deste inconsciente da história, mostra-se que não só a psicanálise pode ser aplicada à história, como também ela própria tem uma perspectiva peculiar da história. A perspectiva psicanalítica da história pode ser vislumbrada, pelo menos, de duas maneiras distintas: a partir do problema da filogênese e do mecanismo de distorção. A primeira possibilita pensar um tipo de desenvolvimento marcadamente histórico, enquanto a segunda permite pensar a própria história como distorção. Destes desenvolvimentos da psicanálise são extraídos aspectos que possibilitam pensar os elementos oníricos presentes na concepção de história de Walter Benjamin. A consideração da influência do contexto histórico no inconsciente bem como da possibilidade de um canal temporal através das neuroses, dos sonhos e das lembranças encobridoras pode franquear o acesso aos conteúdos de épocas passadas, os quais foram conservados, segundo Freud, mediante fixação no inconsciente. Por sua vez, a consideração acerca da presença de tais conteúdos do passado no inconsciente pode lançar luz sobre importantes aspectos da crítica benjaminiana da história.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DERRIDA: LINGUAGEM E FORÇA
Autor: Edilamara Peixoto de Andrade
Orientador: Prof. Dr. William de Siqueira Piauí.
Ano: 2017
RESUMO: Este trabalho pretende investigar o processo de desconstrução do Direito proposto pelo filósofo
argelino Jacques Derrida, a partir da leitura da obra Força de Lei: o fundamento místico da
autoridade. Em nossa investigação buscaremos compreender também por que, para o filósofo,
a desconstrução é apresentada como sendo uma experiência do impossível, e qual a relação
entre essa experiência e a possibilidade de Justiça. Para desenvolvermos nossa investigação
utilizaremos, também, outros textos do filósofo argelino, que auxiliarão em nossa pesquisa,
como Torres de Babel, Espectros de Marx, O monolinguismo do outro, Da hospitalidade, bem
como textos de outros filósofos, em geral citados por Derrida, e comentadores, buscando
entender as críticas e apropriações que o desconstrucionista faz do pensamento de tais autores
no decorrer do texto que está sendo analisado.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: PERCEPÇÃO E EXPRESSÃO ARTÍSTICA NA FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO DE MAURICE MERLEAU-PONTY
Autor: Ybine Dias Correia
Orientador: Prof. Dr. António José Pereira Filho.
Ano: 2017
RESUMO: A presente dissertação pretende estudar a noção de “expressão simbólica” em obras de arte na
primeira fase do pensamento de Maurice Merleau-Ponty, especialmente na obra
Fenomenologia da percepção, partindo da ideia de que já nesta obra a noção “expressão
simbólica” está esboçada, sendo desdobrada e aprofundada nas obras posteriores do autor.
Mostraremos como as noções de corpo próprio e percepção são fundamentais para se pensar
tanto a “expressão perceptiva” quanto a “expressão artística” ou simbólica, sobretudo na
primeira fase de seu pensamento, na medida em que o corpo percebe o mundo de forma
espacial e temporal no “logos do mundo estético”. Por meio de análises das filosofias e
psicologias clássicas, Merleau-Ponty pretende abordar o fenômeno da percepção, procurando
investigar a estrutura da correlação do sujeito (corpo próprio) com o mundo e com os outros,
distanciando-se de toda forma clássica (moderna) de atribuição às intelecções pré-concebidas
da percepção. Na obra de Merleau-Ponty, a descrição da estrutura da percepção liga-se à
noção de um corpo suscetível de expressar arte e sedimentar significações como no caso da
fala e da literatura. Neste trabalho, pretendemos apenas nos situar na primeira fase de seu
pensamento, especificamente nas obras Fenomenologia da Percepção (1945) e O primado da
percepção e suas consequências filosóficas (1946). Para dar conta do nosso objetivo, o
trabalho está dividido em cinco capítulos: no primeiro, intitulado “Crítica aos prejuízos da
tradição”, descrevemos a crítica de Merleau-Ponty às faculdades perceptivas das filosofias e
psicologias clássicas; no segundo, “Corpo próprio: o sujeito da percepção”, procuramos
descrever a noção de sujeito encarnado (corpo próprio), diferente do corpo objeto e sujeito
pensante concebido pela tradição clássica; no terceiro, “A percepção e suas estruturas”,
descrevemos em linhas gerais a estrutura da percepção segundo Merleau-Ponty; no quarto
capítulo, “A expressão no âmbito da percepção”, procuramos descrever a noção de
expressividade do mundo a partir da percepção do sujeito, ou seja, “as coisas como elas são”
a partir da espontaneidade do mundo vivido e do corpo próprio que o percebe; por fim, no
último capítulo, “O corpo e a expressão artística”, o assunto principal de análise é o capítulo
VI da primeira parte da Fenomenologia da percepção (O Corpo como expressão e a fala), em
que por meio deste capítulo procuramos evidenciar a presença da noção de expressão
simbólica já na Fenomenologia da percepção. Nesse sentido, o corpo próprio pode ser
comparado à obra de arte, sendo, portanto, uma forma de superação das dicotomias clássicas:
corpo e alma; sujeito e objeto; consciência e mundo. Veremos que a arte e a linguagem
(expressão simbólica) na filosofia de Merleau-Ponty possui uma peculiaridade extremamente singular enquanto expressão de um sujeito que se liga às amarras carnais do mundo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: A RELAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E ESTADO EM JOHN LOCKE
Autor: Percy Daniel Arce Santos
Orientador: Prof. Dr. Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro
Ano: 2017
RESUMO: O presente trabalho visa investigar a importância do conceito de propriedade para a
construção do Estado na obra do filósofo inglês John Locke. Para isso, o trabalho foi dividido
em três capítulos. O texto discorre sobre o conceito de propriedade em Locke, bem como
sobre as interpretações que dele fizeram os principais comentadores da obra política do
filósofo inglês. Desenvolve-se, em seguida, conceito lockeano de Estado, explicando-se as
características deste, bem como a maneira pela qual, segundo Locke, ele é constituído a partir
do consentimento dos indivíduos. Mostra-se, então, em que medida seu surgimento é
determinado pela propriedade. Finalmente, discorre-se, de maneira mais extensa, sobre as
relações entre o conceito de propriedade e o de Estado.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O CONCEITO DE COISAS INDIFERENTES EM JOHN LOCKE
Autor: Mykael Morais Viana
Orientador: Prof. Dr. António Carlos dos Santos
Ano: 2017
RESUMO: A presente pesquisa objetiva analisar o conceito de coisas indiferentes no pensamento de John Locke (1632-1704). Defendemos que esse conceito é o argumento chave na tese da separação entre Estado e religião. Essa hipótese nos permitirá compreender porque Locke limita a tolerância, excluindo ateus e papistas da sociedade, além de não defender o direito à liberdade de consciência como fundamento da tolerância, optando pelo fundamento político, em detrimento do moral ou teológico. Através de uma análise estrutural do texto, apoiada em comentadores conceituados, pretendemos mostrar o lugar do conceito de coisas indiferentes no pensamento político de Locke. Isso nos permite entender melhor as principais mudanças entre seus textos de juventude e maturidade, sobretudo no que diz respeito ao tema central em questão. Partiremos de uma análise dos Opúsculos sobre o governo, dos Ensaios sobre a lei de natureza e do Ensaio sobre a tolerância determinando a extensão e o posicionamento de Locke sobre tema das coisas indiferentes, para depois analisarmos a Carta acerca da tolerância e os Dois tratados sobre o governo, com o intuito de delimitar o escopo da nossa pesquisa. O Ensaio sobre o entendimento servirá como auxiliar para as questões ligadas à fé e ao conhecimento de Deus, o que para Locke vem a ser importante quando ele se depara com os ateus e também com os católicos. A pesquisa está organizada em sete tópicos, onde abordamos de forma cronológica as ideias e argumentos do nosso autor acerca do tema das coisas indiferentes e seu lugar no conceito de tolerância.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2015 ---------------------------------------------------------
TITULO: TEORIA DA MODERNIDADE E RAZÃO COMUNICATIVA EM HABERMAS
Autor: Anjos Júnior, José dos
Orientador: Oliveira, Everaldo Vanderlei de
Ano: 2015
RESUMO: A investigação presente é dedicada à teoria habermasiana da modernidade, em particular, no que se refere aos conceitos de racionalização, de reificação e de razão comunicativa. Tais conceitos são desenvolvidos a partir da reflexão crítica de Habermas a propósito de Max Weber e Georg Lukács, dado que estes constituíram fortemente o vínculo entre a teoria da modernidade e a teoria da sociedade. Razão pela qual, para perseguir os objetivos propostos, será examinada, sobretudo, a "Teoria do agir comunicativo" (1981). Com efeito, a teoria habermasiana da modernidade, ao defrontar-se com Weber e Lukács, constitui o objeto de pesquisa deste trabalho, cujo problema pode ser assim formulado: de que maneira a teoria habermasiana da modernidade fornece as bases de seu conceito de racionalidade comunicativa? Weber entende as patologias da modernidade em termos de “perda de sentido” e “perda da liberdade”, ambas decorrentes do processo de “racionalização social”. Lukács, em sua apropriação e transformação de Weber, elabora tais patologias sob o conceito de "reificação”. Habermas, por sua vez, põe o problema em termos de “colonização do mundo da vida” pelo sistema social. À medida que Habermas atribui aos dois primeiros o caráter de análise unilateral, por levarem em consideração somente o conceito restrito de racionalidade, ele busca desenvolver um diagnóstico que abarque as patologias da modernidade em toda a sua amplitude, oferecendo como resposta o peculiar conceito de racionalidade comunicativa. Deste modo, a teoria da modernidade fornece o diagnóstico de época, identificando as patologias da modernidade, cuja terapia é tarefa assinalada à racionalidade comunicativa.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[] 2014 ---------------------------------------------------------
TITULO: ÉTICA DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EM HANS JONAS E A RELEVÂNCIA DO DIÁLOGO ENTRE A FILOSOFIA, A BIOLOGIA E O DIREITO
Autor: Telma Maria Santos Machado
Orientador: Cesar, Constança Marcondes
Ano: 2014
RESUMO: Este trabalho versará sobre a ética da responsabilidade de Hans Jonas e procurará demonstrar a relevância, em plena era tecnológica, do diálogo entre a Filosofia, a Biologia e o Direito. Embora se reconheça a necessidade de uma ampla interação entre as várias áreas do conhecimento frente aos desafios de uma responsabilidade ambiental que redunde na possibilidade de se ter o que Jonas denomina de vida humana autêntica no planeta, tornou-se imprescindível proceder a um corte epistemológico em vista da necessária limitação temática. À luz principalmente de assertivas constantes do livro O Princípio Responsabilidade, o tema ética ambiental será analisado do ponto de vista biológico, jurídico e especialmente filosófico, em capítulos específicos, porém não estanques, eis que a proposta ética de Jonas norteará a análise de cada um deles.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: PÔR O FILOSOFAR EM CURSO: INTRODUÇÃO À FILOSOFIA SEGUNDO MARTIN HEIDEGGER
Autor: José Lucas de Omena Gusmão
Orientador: Santos, Edmilson Menezes
Ano: 2014
RESUMO: Para o filósofo alemão Martin Heidegger, o Pôr o Filosofar em Curso só é possível por meio de um acontecimento nas estruturas internas do ser-aí humano. Sendo o Pôr o Filosofar em Curso transeunte nas sendas da tradição, como o alcançaremos no interior do ser-aí humano? É nessa perspectiva que nos apropriamos do conceito de Introdução à Filosofia de Martin Heidegger com o intuito de refletir sobre os problemas que versam o caminho da filosofia enquanto atividade genuinamente humana, fazendo da mesma esclarecimento e enunciado. A filosofia mostra-se em afluxos ordenados, de modo que, durante o seu itinerário, recusa e transpõe determinados conceitos relacionados a critérios discursivos. O presente trabalho, cujo tema é Pôr o filosofar em curso: Introdução à Filosofia segundo Martin Heidegger , procura fazer uma leitura da obra de Heidegger, em particular dos textos O que é Isto - a Filosofia? , Introdução à Filosofia , O Fim da Filosofia , Carta sobre o Humanismo , Ser e Tempo , Heráclito: a origem do pensamento ocidental , bem como um diálogo com a literatura heideggeriana, enfatizando as características que compõe o arcabouço intrínseco e delas abstraindo a trajetória da filosofia contida na obra do autor, com o objetivo de assimilar as suas estruturas argumentativas. As apreciações as quais seremos conduzidos trazem na sua essência o engendramento de conceitos significativos, como os conceitos de Filosofia, Liderança e Visão de Mundo, porque, segundo se quer demonstrar, conceber uma Introdução à Filosofia em Heidegger não restringe-se a uma discussão curricular, mas um modo de ser do próprio ser-aí humano e, consequentemente, dependemos de tais conceitos para explicitarmos o sentido do que seja de fato o Pôr o Filosofar em Curso
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: CLÍNICA E MORAL EM NIETZSCHE: PSICOLOGIA MORAL COMO EXPERIÊNCIA DE SI
Autor: Salomão dos Santos Santana
Orientador: Silva, Romero Junior Venâncio
Ano: 2014
RESUMO: Esta dissertação tem a tarefa de evidenciar o papel da experiência de vida de Nietzsche diante de sua produção filosófica e psicológica. Dando importância como o filósofo se auto entendeu, em seu livro Ecce Homo, nos Fragmentos póstumos e em sua correspondência, e interessando-se por sua Clínica Moral, enquanto fundamento da crítica à moral, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar o que a Filosofia de Nietzsche deve ao seu encontro com a sua vivência e, sobretudo, a doença. Procurou-se mostrar que o filósofo, ao atribuir sua psicologia moral à sua doença, relacionando, assim, como nenhum outro filósofo, vida e obra, explicita que a enfermidade é o nexo entre uma e outra, podendo-se, dessa forma, desdobrar o tema em saúde e doença de Nietzsche para saúde e doença em Nietzsche e, mais, a psicologia em Nietzsche para psicologia de Nietzsche. Evidencia-se, assim, que o primeiro impulso e inspiração para o filosofar nietzschiano surgiu da necessidade de cuidar da própria saúde, transformando toda a sua obra em prontuário médico, uma terapia que ele próprio usou. Entendendo a clínica, espaço onde se procura a cura, como técnica de restaurar o equilíbrio do corpo e considerando o corpo como a essência da natureza (physis) existente, pode-se tomar a filosofia de Nietzsche como o engendramento de uma nova terapia: técnica de manutenção da grande saúde, a partir de uma nova proposta moral; a moral da superação de si.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: DIVERSIDADE, LIBERDADE E EDUCAÇÃO: ASPECTOS DA TOLERÂNCIA EM MONTESQUIEU
Autor: Cleber Rick Dantas de Carvalho
Orientador: Santos, Antônio Carlos dos
Ano: 2014
RESUMO: Esse trabalho tem como tema a tolerância em Montesquieu e por objetivo analisá-la a partir de três aspectos em sua obra: diversidade, liberdade e educação. A razão de focar nessas três noções está na busca por uma compreensão exegética acerca dos princípios constitutivos que sustentariam sua concepção de tolerância. Nesse sentido, alguns problemas basilares norteiam essa dissertação: qual a gênese conceitual da tolerância em Montesquieu? Haveria em seus textos noções intermediárias que se interligariam e remeteriam a esse conceito? Em quais princípios a tolerância repousa? A hipótese a ser testada é a de que para se chegar a uma concepção de tolerância foi necessário a esse autor defender antes a valorização da diversidade, a manutenção da liberdade e o auxílio da educação. O que se procura averiguar é a ideia segundo a qual o autor do Espírito das Leis teria percorrido um caminho conceitual formado fundamentalmente por um tríplice pilar, (diversidade, liberdade e educação) para chegar a uma conceituação posterior da tolerância. Para testar essa afirmação optou-se em desenvolver esse trabalho em três capítulos, os quais configuram três objetivos específicos: 1) Pensar o tema da diversidade vinculado ao de tolerância; 2) Relacionar a liberdade política à liberdade religiosa; 3) Vincular o tema da educação ao da tolerância. No primeiro capítulo, discorrer-se-á acerca da noção de diversidade a partir de três campos específicos: o físico, o social e o político. No segundo capítulo, serão abordados os conceitos de liberdade política e liberdade religiosa. E, no terceiro capítulo, discorrer-se-á acerca da educação nas três formas governos: monarquia, despotismo e república. Esta pesquisa visa a acrescentar à bibliografia incipiente sobre Montesquieu no Brasil, de forma particular, no sentido de abordar perspectivas ainda não exploradas.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: EM TORNO DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS DE J. J. ROUSSEAU
Autor: Cristiano de Almeida Correia
Orientador: Becker, Evaldo
Ano: 2014
RESUMO: O objetivo geral da presente dissertação é investigar o tema da guerra, dentro do projeto das Instituições Políticas, a partir da trajetória percorrida por Rousseau desde as descrições de um estado de natureza pacífico, passando pela emergência dos Estados e a consequente deflagração do estado de guerra verificado nas relações internacionais. Para tanto é fundamental que se examine o assunto em vista de maneira linear, mantendo como centro o conhecimento do homem. O caminho a ser percorrido é o que leva à degeneração do ser humano a partir do ingresso na sociedade civil. Tal ingresso tem como proposta fomentar e manter a paz, porém, com o advento do Estado, ser moral cuja extensão e força são puramente relativas, cria uma correspondência desigual entre eles, engendrando guerras. Assim, o homem se vê numa condição mista: como indivíduo isolado, refém da lei natural; como cidadão partícipe da ordem social, submetido à lei civil; e como povo soberano, livre para relacionar-se com outros povos numa esfera internacional carente de mecanismos reguladores. Assim, dividimos a presente pesquisa em dois Capítulos. No primeiro, trataremos a questão do homem natural e do estado de natureza - caracterizado por Rousseau como um período de isolamento e simplicidade - até o momento do pacto histórico, gerador de uma ordem social corrupta, fruto da degeneração dos atributos naturais do homem ao ingressar na vida em sociedade. O Estado é criado, e com ele nasce a guerra. No segundo capítulo, apresentaremos o tema da fundação dos Estados-Nação e suas relações na esfera internacional. Abordaremos a questão da formação de uma sociedade legítima, bem constituída, como remédio para amainar as agruras decorrentes do pacto histórico. Trabalharemos sobretudo com os conceitos de liberdade, soberania e vontade geral. Em seguida adentraremos no tema da guerra, destacando os conceitos de estado de guerra e guerra legítima, ressaltando mais ainda o pessimismo de Rousseau acerca de uma solução definitiva para o problema. Por fim, apresentaremos o debate entre Rousseau e Diderot acerca da possibilidade de uma sociedade geral do gênero humano como solução para a paz. Nossa hipótese é a de que o projeto das Instituições Políticas, como um todo, se concretizado, traria elementos que colocariam Rousseau como um escritor mais próximo do realismo político do que a tradição e os manuais de filosofia supõem, tentando assim, dar nossa pequena contribuição à imensa bibliografia sobre o tema. Os principais textos de Rousseau aqui analisados são: o Discurso sobre a Desigualdade, o Contrato Social, o Princípios do direito da guerra e o segundo capítulo do Manuscrito de Genebra intitulado Da sociedade geral do gênero humano. Estes três últimos comporiam o projeto inacabado das Instituições Políticas.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: VERDADE E PALAVRA CANTADA: O ESTATUTO DA LINGUAGEM POÉTICA NA REPÚBLICA DE PLATÃO
Autor: Flaubert Marques da Cruz
Orientador: Bezerra, Cícero Cunha
Ano: 2014
RESUMO: Platão no livro X da Politéia realiza uma ação pouco observada ao longo das análises da crítica platônica aos poetas, a saber: a recondução dos mesmos à cidade ideal. Sua crítica, portanto, segundo a interpretação dos comentadores selecionados, se pauta nas necessidades oriundas das transformações que operaram durante o transcorrer dos séculos V e IV a. C., período no qual ocorreu, além da dissolução da pólis, a transição da cultura oral, típica de sociedades tradicionais, para o mundo da escrita e dos manuscritos em que o logos em contraposição ao mythos exigia uma mudança substancial nos modos da formação educacional do cidadão, visando à constituição de homens justos e que prezassem pela sabedoria dialética. Nesse trabalho nos propomos analisar a crítica platônica ao modelo mimético-poético, sua pertinência para uma formação educacional proposta por esse mesmo autor e a readequação do poeta e das suas obras para a sua reentrada na cidade ideal ocupando uma nova função e abordando novas temáticas.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O ENTIMEMA NA ARTE RETÓRICA DE ARISTÓTELES: SUA ESTRUTURA LÓGICA E SUA COM O PÁTHOS E O ÉTHOS
Autor: Joelson Santos Nascimento
Orientador: Dinucci, Aldo Lopes
Ano: 2014
RESUMO: Na Arte Retórica, duas formas podem ser utilizadas para realizar uma demonstração: o exemplo, considerado por Aristóteles como indução, e o entimema, com sua forma dedutiva. Trataremos neste trabalho do entimema como um “corpo” (sṓma)que carregará consigo as provas do discurso. Mostraremos sua estrutura silogística e dialética para compreendermos o seu uso. Mas isso não será suficiente se não entendermos também as matérias primas pelas quais o entimema é nutrido. Essa forma dedutiva, adaptada ao discurso retórico, tirará suas premissas de lugares-comuns a todos os gêneros do discurso (deliberativo, judicial e epidíctico) e lugares específicos a cada um deles. Mas a matéria prima que nos interessa é aquela fornecida pelo caráter moral (éthos) do orador e das disposições criadas por ele nos ouvintes (páthos). Estas são as provas artísticas (éntechnai pístis)que são fornecidas pelo orador por meio do próprio discurso. Nosso objetivo nesta dissertação é o de mostrar a estrutura lógica do entimema, assim como sua relação com esses dois tipos de provas.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: HEGEL: A ABSTRAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS
Autor: Max Batista Vieira
Orientador: Tolle, Oliver
Ano: 2014
RESUMO: O presente trabalho resulta de uma tentativa de síntese do nosso estudo acerca das discussões realizadas por Hegel sobre a formação da consciência no período de transição entre juventude e maturidade, particularmente entre os anos de 1802 e 1807, anos em que foram publicados, respectivamente, Fé e Saber e Fenomenologia do Espírito. Aparentemente, nesse período ganha em Hegel ênfase a importância do conceito de abstração para o conhecimento. Como tentaremos mostrar, o autor trabalha esse conceito desde o processo de formação da consciência até o ápice do conhecimento, quando é vencido o limite imposto pela abstração com a conquista do conhecimento do absoluto. Ora, reconstituir alguns dos aspectos principais desse processo de formação nos conduziu a algumas reflexões sobre o papel positivo da abstração, ou seja, de que ela representa não apenas uma perda cognitiva, mas que também é o único meio de passar paulatinamente do particular ao todo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO: O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA SEGUNDO THOMAS S. KUHN : ANÁLISE E CRÍTICA DO MODELO PROPOSTO NA ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS
AUTOR: Vagner Gomes Ramalho
Orientador: Menna, Sérgio Hugo
Ano: 2014
RESUMO: O livro de Thomas S. Kuhn, A Estrutura das revoluções científicas (1962), foi recebido pela comunidade filosófica e científica como um texto revolucionário. Nele, Kuhn propõe uma nova forma de compreender o desenvolvimento científico. Diferentemente dos filósofos da ciência de sua época, que viam o desenvolvimento científico como um largo processo de acumulação, Kuhn propôs que o desenvolvimento científico está marcado por processos de ruptura denominados revoluções científicas . Em ocasião da edição japonesa da Estrutura, em 1969, Kuhn introduziu um Posfácio, que considero parte integrante de sua noção de desenvolvimento científico, pois é complementar ao seu modelo e traz esclarecimentos sobre as questões tratadas na obra de 1962. Conforme o modelo inicial de desenvolvimento presente no conjunto Estrutura/Posfácio, as rupturas no processo de desenvolvimento científico são marcadas pela sucessão de paradigmas. Os paradigmas, para Kuhn, são uma espécie de arcabouço teórico-metodológico. Eles direcionam a atividade científica para a compreensão dos fenômenos estudados por uma comunidade científica. Com esta Dissertação pretendo analisar de forma crítica o modelo de desenvolvimento científico presente na Estrutura, discorrendo sobre os conceitos-chave necessários para o entendimento do modelo.
Baixe aqui -> LINK PARA DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Você chegou ao fim. Qualquer dúvida nos contate!